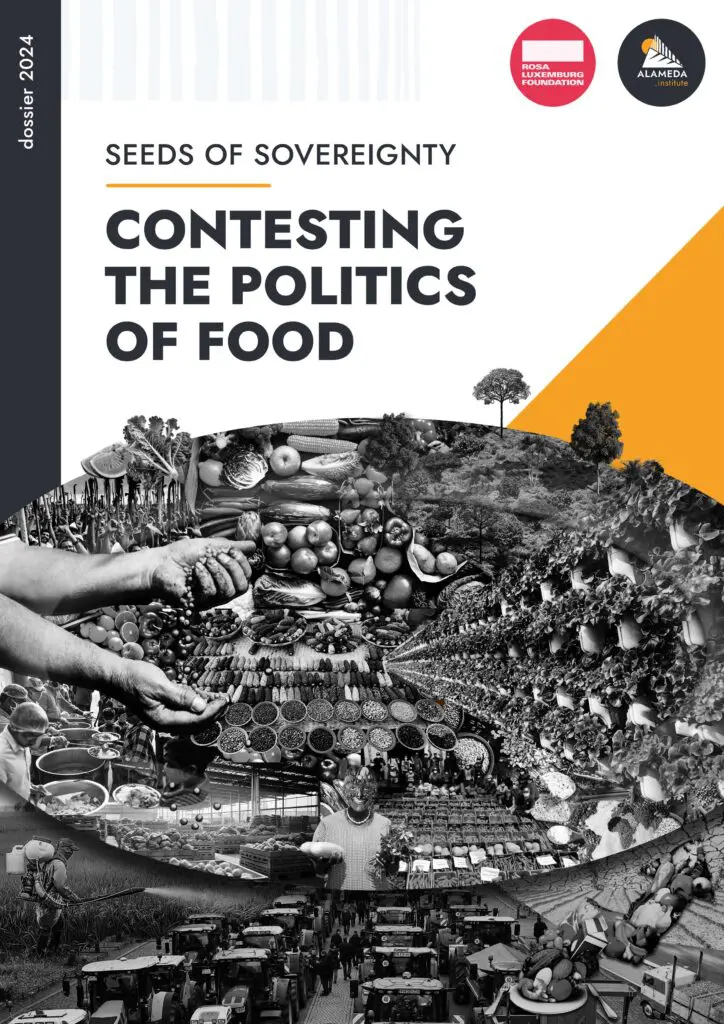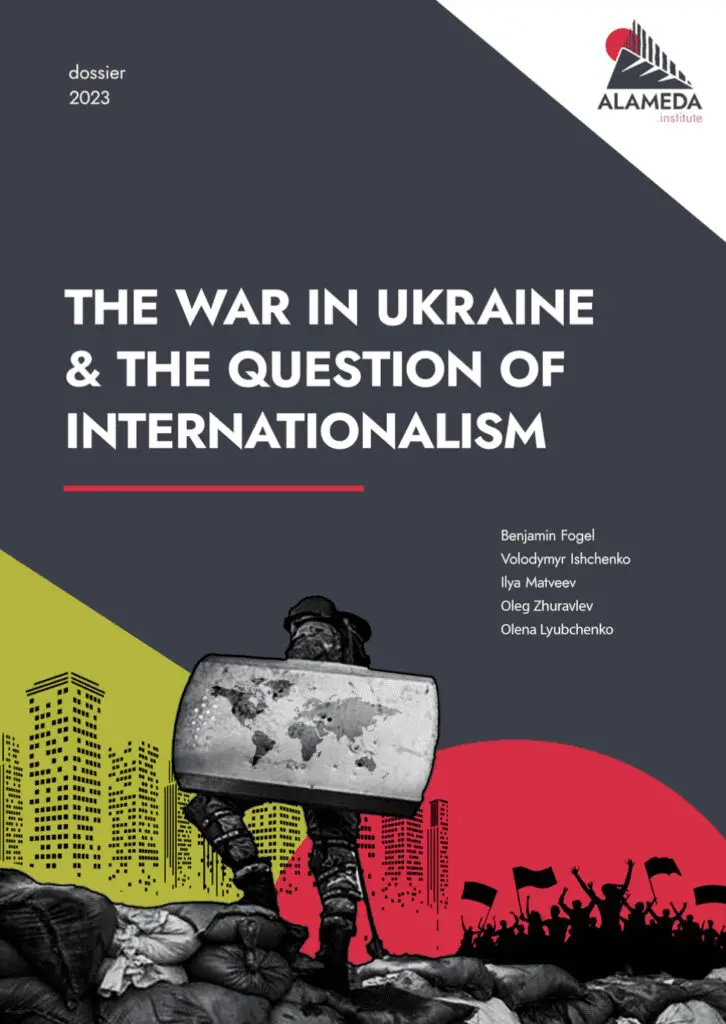IV. A eliminação gradual dos combustíveis fósseis é um requisito para um mundo pacífico
A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia e o genocídio em curso na Palestina expuseram as conexões inegáveis entre a crise climática, os combustíveis fósseis e a guerra. Esse não é um fenômeno novo: Durante décadas, os combustíveis fósseis moldaram, exacerbaram, sustentaram ou prolongaram conflitos em todo o mundo, diferentemente de qualquer outra mercadoria. Por exemplo, as receitas das exportações de petróleo e gás da Rússia continuam a sustentar sua guerra brutal contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, os conflitos e as atividades militares movidos a combustíveis fósseis aceleram o colapso climático. Os danos ecológicos em larga escala e o aumento vertiginoso das emissões de gases de efeito estufa estão entre os resultados documentados da guerra contínua de Israel contra Gaza.
Como o uso de combustíveis fósseis e a guerra se exacerbam mutuamente, os ativistas da paz e da justiça climática têm muito a ganhar com o desenvolvimento de estratégias conjuntas. A prevenção e a resolução de conflitos são etapas necessárias para reduzir as emissões globais; e uma eliminação gradual justa e equitativa dos combustíveis fósseis deve fazer parte de qualquer estratégia para a construção de um mundo pacífico para todos.
Combustíveis fósseis como combustível de guerra
Os combustíveis fósseis interagem com a política nacional e internacional de maneiras complexas, mas há correlações históricas impressionantes entre os combustíveis fósseis e a guerra. Nenhuma outra commodity moldou mais as guerras internacionais do que o petróleo. Por exemplo, estima-se que de um quarto a metade de todas as guerras interestaduais estejam ligadas ao petróleo desde a Crise do Petróleo de 1973, o início da era moderna da energia.
As disputas sobre a soberania das reservas físicas de petróleo muitas vezes levaram à guerra. A invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990, por exemplo, foi motivada pelo lucro esperado com a apreensão dos campos de petróleo do Kuwait (embora a perspectiva de expandir a influência do Iraque na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) também tenha sido um fator). Mais recentemente, as disputas sobre soberania territorial e nacional reacenderam-se entre a Venezuela e a Guiana. Embora a Venezuela tenha reivindicado o território de Essequibo desde 1811, a descoberta de um grande potencial de produção de petróleo na região guianense em 2015 aumentou seu valor econômico e estratégico. Estima-se que a Guiana tenha o potencial de produzir pelo menos 12 a 15 bilhões de barris de petróleo equivalente, no total - possivelmente até 25 bilhões de BOE. Embora as fronteiras contestadas tenham permanecido relativamente tranquilas durante o governo do falecido Hugo Chávez, o presidente Nicolás Maduro anunciou no início de dezembro de 2023 que havia tomado medidas para formalizar a incorporação de Essequibo como parte da Venezuela, aumentando os temores de uma possível ação militar e levando atores como o Brasil a intervir como mediadores diplomáticos.
A perspectiva de dominação do mercado do setor de energia pode ser outro incentivo para a intervenção estrangeira. Embora o papel do petróleo na invasão e ocupação do Iraque pelos EUA continue a ser objeto de debate, a soma dos interesses militares dos EUA nas reservas de petróleo do Oriente Médio é marcada pelo que Jacob Mundy descreve como "petróleo para a insegurança, uma dinâmica na qual a guerra, a militarização e a autocracia na região foram emaranhadas com o domínio econômico das empresas petrolíferas do Atlântico Norte, a hegemonia dos EUA e os discursos de segurança energética". Depois que Saddam Hussein foi removido do poder, os Estados Unidos criaram um governo provisório que privatizou o setor petrolífero iraquiano. O Global Centre for Climate Justice argumenta que isso "beneficiou empresas petrolíferas anglo-americanas como a Shell e a BP, concedendo-lhes contratos de 30 anos que lhes permitiram manter a maior parte dos lucros da extração de petróleo do Iraque e exportá-los para o exterior.1Katya Forsyth and Frederick Kerr, “The Toxic Relationship between Oil and the Military,” Global Center for Climate Justice, 2 March 2022 De acordo com um estudo divulgado em 2018, o exército dos EUA gasta US$ 81 bilhões por ano em monopolizar os suprimentos globais de petróleo.2 “The Military Cost of Defending Global Oil Supplies,” Securing America’s Future Energy, 21 September 2018
As evidências que vinculam a extração de combustíveis fósseis à guerra e à intervenção militar continuam a se acumular: os países exportadores de petróleo se envolvem em cerca de 50% mais conflitos internacionais do que os países que não são petroleiros, em média.3Jeff D. Colgan, “Oil, Domestic Politics, and International Conflict,” Energy Research & Social Science 1 (March 2014) Os exportadores de petróleo tendem a gastar muito mais dinheiro com forças militares e de segurança do que os países não exportadores. Essa tendência é particularmente predominante entre as autocracias, como a Líbia de Kaddafi ou o Irã de Khomeini, que tendem a se envolver no que o acadêmico Jeff D. Colgan chamou de "petro-agressão". Kadafi interveio na guerra entre Uganda e Tanzânia de 1978 a 1979, enviando forças militares e equipamentos líbios em apoio a Uganda e mudando o curso da guerra. Na década de 1980, a Líbia forneceu apoio substancial a mais de trinta insurgências e grupos terroristas estrangeiros em todo o mundo. Da mesma forma, a receita do petróleo do Irã possibilitou o apoio militar e financeiro a agentes externos, como o Hezbollah, que desempenhou um papel significativo na oposição à invasão do sul do Líbano por Israel em 1982.
A lente da "petro-agressão" também pode ser aplicada à invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Entre a invasão e novembro de 2023, a Rússia acumulou mais de 550 bilhões de euros em receita de exportações de combustíveis fósseis.4“The Carbon War: Accounting for the Global Proliferation of Russian Fossil Fuels and the Case for Unprecedented International Sanctions Response,” Razom We Stand, December 2023 A Global Witness descobriu que, somente em 2023, as exportações russas de petróleo bruto para a União Europeia produziram 1,1 bilhão de euros em receitas fiscais diretas: o suficiente para comprar mais de 1.200 mísseis de cruzeiro Kalibr ou 60.000 drones Shahed, ambos usados para bombardear cidades e matar civis em toda a Ucrânia. De acordo com a RAZOM We Stand, uma organização ucraniana que trabalha pela proibição dos combustíveis fósseis russos e por uma transição global de energia renovável, a Rússia pretende alocar quase um terço de seus gastos totais do Estado para o complexo militar e militar-industrial em 2024, um aumento de 70% nos gastos com defesa nacional a partir de 2023.
Os combustíveis fósseis não apenas moldam a guerra e os conflitos por meio da "petro-agressão" ou do desejo dos Estados de dominar o mercado - eles também fornecem a própria força vital para alimentar conflitos e atividades militares em todo o mundo.
Combustíveis fósseis e militarismo
Além das relações entre a guerra e a extração de petróleo, e entre as receitas do petróleo e os gastos militares, as forças armadas são particularmente dependentes dos combustíveis fósseis como fonte de energia. O complexo militar-industrial global está entre os maiores consumidores institucionais de combustíveis fósseis, mesmo na ausência de um conflito ativo. Estimativas conservadoras sugerem que a atividade militar contribui com pelo menos 5,5% das emissões globais de gases de efeito estufa.5Stuart Parkinson e Linsey Cottrell, “Estimating the Military's Global Greenhouse Gas Emissions,” (Estimando as emissões globais de gases de efeito estufa das Forças Armadas)” Cientistas pela Responsabilidade Global e Observatório de Conflitos e Meio Ambiente, novembro de 2022 Para colocar isso em perspectiva, as emissões globais do setor de aviação civil representam cerca de 2,5%. Os aumentos nos gastos militares estão correlacionados com o aumento das emissões - em 2023, os gastos militares globais atingiram uma alta sem precedentes de US$ 2.443 bilhões. O relatório dessas emissões ainda não é obrigatório nos termos dos acordos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, apesar da pressão da sociedade civil nas COPs anuais.
As atividades militares, os conflitos e as guerras produzem emissões por meio da destruição e também da reconstrução subsequente. O uso de mísseis e bombas e a consequente destruição da infraestrutura e de ecossistemas inteiros, inclusive de sumidouros de carbono, como as florestas, combinam-se para gerar aumentos imensos nas emissões. Por exemplo, o primeiro ano da guerra na Ucrânia liberou emissões adicionais aproximadamente iguais à produção anual da Bélgica.6Lennard de Klerk, Mykola Shlapak, Anatolii Shmurak, Oleksii Mykhalenko, Olga Gassan-zade, Adriaan Korthuis, Yevheniia Zasiadko, “Climate damage caused by Russia's war in Ukraine” (Danos climáticos causados pela guerra da Rússia na Ucrânia)” Iniciativa sobre Contabilidade de GEE de Guerra, Junho de 2023Mais recentemente, o estudo Um instantâneo multitemporal das emissões de gases de efeito estufa do conflito entre Israel e Gaza revelou que os dois primeiros meses da guerra em Gaza produziram emissões comparáveis à pegada de carbono anual de mais de 20 das nações mais vulneráveis ao clima do mundo - e 99% dessas emissões são provenientes das operações militares de Israel. Como a reconstrução da infraestrutura e dos edifícios também depende de combustíveis fósseis e de outros materiais que geram muitas emissões, como o concreto, o mesmo estudo estimou que a reconstrução de Gaza acarretará emissões anuais totais superiores às de mais de 130 países.7Nina Lakhani, “Emissions from Israel's War in Gaza have ‘immense’ effect on climate catastrophe” (Emissões da guerra de Israel em Gaza têm um efeito 'imenso' na catástrofe climática)” O Guardião, 9 de junho de 2024
Combustíveis fósseis e o contínuo tempo de guerra-tempo de paz
Os combustíveis fósseis também desempenham um papel na exacerbação da violência, da insegurança e dos conflitos dentro dos países. Eles estão envolvidos em guerras civis e movimentos separatistas, mas também em violações sistêmicas dos direitos humanos, incluindo a violência baseada em gênero. Ativistas feministas e movimentos da sociedade civil de mulheres argumentam que a violência contra mulheres e meninas opera em um continuum de tempo de paz e tempo de guerra - em que os atos de violência não são incidentes isolados, mas têm suas raízes em desigualdades existentes em tempo de paz e normas de gênero prejudiciais.
Em termos de guerras civis e conflitos armados internos, os países do Sul Global que produzem petróleo têm duas vezes mais chances de sofrer rebeliões internas do que os países não produtores.8Micheal L. Ross, “Blood Barrels: Why Oil Wealth Fuels Conflict” (Barris de Sangue: Por que a Riqueza do Petróleo Alimenta Conflitos).” Relações Exteriores (2008) A presença de recursos petrolíferos aumenta a probabilidade de guerra civil, como no Sudão, ou o surgimento de movimentos separatistas, como no Delta do Níger. O risco de conflito armado também aumenta quando grupos étnicos vivem perto de depósitos de petróleo e são excluídos dos sistemas políticos nacionais.9Victor Asal et al., “Political Exclusion, Oil, and Ethnic Armed Conflict” (Exclusão política, petróleo e conflitos armados étnicos).” Jornal de Resolução de Conflitos 60(8), (2016) Algumas pesquisas indicam que a presença de petróleo está correlacionada com a intensificação da violência durante conflitos armados e influencia as atividades de grupos armados, inclusive a decisão de grupos armados de se estabelecerem em determinadas regiões ou áreas, como foi o caso do município colombiano de San Vicente de Chucurí na década de 1990, quando paramilitares forçaram camponeses a saírem de suas terras para permitir a exploração de petróleo. 10Juan David Gutiérrez Rodríguez, “The connection between oil wealth and internal armed conflicts: Exploring the mechanisms of the relationship using a subnational lens,” (Explorando os mecanismos da relação usando uma lente subnacional)” As indústrias extrativas e a sociedade 6(2), (Abril de 2019)
Os conflitos internos e as atividades de grupos armados são impulsionados por fatores complexos e específicos do contexto e são mediados por legados coloniais e por uma arquitetura financeira e econômica internacional que continua em desvantagem para muitos países do Sul Global. Outras motivações para esses conflitos incluem o controle das rendas do petróleo e o poder simbólico proporcionado pelo controle desses recursos,11Paul Collier e Anke Hoeffler, “The Political Economy of Secession,” (2002) e queixas resultantes da destruição ecológica, das violações dos direitos humanos e das desigualdades econômicas em torno dos locais de extração de combustíveis fósseis.
Aceh, na Indonésia, é um exemplo disso: As disputas sobre as receitas do petróleo após a descoberta de gás natural em 1971 se cruzaram com as queixas resultantes das violações dos direitos humanos e das desigualdades econômicas, bem como com questões antigas de soberania e autodeterminação. O desvio dos lucros do petróleo e do gás para fora de Aceh, juntamente com o deslocamento forçado de comunidades próximas à infraestrutura de petróleo e gás e o aumento da presença das forças de segurança indonésias nos locais de extração, deu origem à primeira insurgência separatista de Aceh. O Movimento Aceh Livre travou uma guerra de independência contra os militares indonésios por aproximadamente 30 anos, de meados da década de 1970 até 2005. O governo indonésio procurou manter o controle de Aceh, em grande parte devido à sua riqueza em petróleo e gás. O conflito armado só chegou ao fim após o tsunami de 2004, que matou quase 200.000 pessoas em Aceh. O acordo de paz resultante, o Memorando de Entendimento de Helsinque, estipulou que 70% das receitas de petróleo e gás deveriam permanecer em Aceh.
No Sudão do Sul e no Sudão, a descoberta de petróleo na década de 1970 deu um impulso decisivo à divisão existente entre o Norte e o Sul, com base em fatores tribais, econômicos, religiosos, sociais e políticos. A primeira exportação de petróleo bruto em 1999 marcou um ponto de inflexão, tornando-se a principal causa de conflito. As comunidades nas partes produtoras de petróleo do Sudão do Sul e do Sudão não se beneficiaram dessa infraestrutura e, portanto, desenvolveram queixas, resultando em ataques à infraestrutura petrolífera e tomada de reféns. O compartilhamento da receita do petróleo foi um componente fundamental do Acordo de Paz Abrangente de 2005 e foi novamente trazido à discussão após a divisão do país em julho de 2011. No mesmo ano, o Sudão do Sul convidou investimentos internacionais para um campo de petróleo recém-inaugurado que deverá gerar US$ 1,3 bilhão em receita de petróleo por ano. No entanto, a maior parte da receita da extração de petróleo e dos valores agregados relacionados foi acumulada para as corporações multinacionais que o controlavam e, desde a abertura do campo de petróleo, o governo perdeu mais de US$ 4 bilhões somente para as empresas petrolíferas, em impostos não pagos. A riqueza repentina associada ao campo de petróleo comprometeu a estabilidade do Sudão do Sul e, em 2013, a disputa da elite pelas riquezas petrolíferas do Sudão do Sul desencadeou um novo conflito que pode ter matado até 400.000 pessoas e deslocado milhões. Apesar de um acordo de paz em 2018, a população do Sudão do Sul continua sofrendo com a falta de serviços básicos, muitas vezes à beira da fome, enquanto as receitas do petróleo pagaram "despesas fora do orçamento, pagamentos de dívidas não revelados e alocações para sua opaca empresa estatal de petróleo Nile Petroleum".
Outro exemplo gritante de extração de combustível fóssil que leva à militarização e à violência em vez de prosperidade é o caso de Cabo Delgado, em Moçambique. Em 2010, foram encontrados campos de gás offshore no norte de Moçambique, e as empresas multinacionais do Norte Global se apressaram em elaborar planos de extração. Três grandes projetos de Gás Natural Liquefeito (GNL) foram desenvolvidos desde então, sendo que a maior parte do gás provavelmente será exportada para os mercados asiático e europeu. Os projetos de gás tiveram impactos ambientais negativos significativos, e o desenvolvimento de instalações de apoio em terra deslocou comunidades, custando aos agricultores e pescadores seus meios de subsistência. Muitos ainda estão aguardando indenização pelo reassentamento forçado. Todas essas mudanças exacerbaram o descontentamento pré-existente na região e levaram a insurgências violentas de 2017 em diante. Militantes do Estado Islâmico (ISIS), a maioria dos quais foi inicialmente motivada a se juntar ao grupo insurgente pela percepção de exclusão socioeconômica, perpetraram ataques horríveis contra civis e desencadearam uma crise humanitária que deslocou cerca de um milhão de pessoas. O governo moçambicano reagiu trazendo empresas militares e de segurança privadas, que também cometeram violações de direitos humanos, exacerbando ainda mais a violência e os ressentimentos de longa data. O conflito resultou em casos graves de violência sexual e de gênero contra mulheres e meninas, desde sequestros por insurgentes até estupros e agressões sexuais por soldados do governo, bem como prostituição forçada. A presença combinada do exército moçambicano, de tropas estrangeiras aliadas e de empresas militares e de segurança privadas (PMSCs) ajudou a recuperar um território significativo dos insurgentes e a restabelecer os serviços básicos, mas a ação militar não resolverá um conflito enraizado em profundas queixas locais.
Na América Latina, os combustíveis fósseis têm desempenhado um papel fundamental na manutenção da atividade criminosa de agentes não estatais, exacerbando a violência e a insegurança. Em resposta a uma repressão do governo em 2007, os cartéis mexicanos diversificaram suas operações para incluir o roubo de hidrocarbonetos das redes de oleodutos. Depois de 2009, um cartel, o Los Zetas, monopolizou o roubo de hidrocarbonetos nos estados de Puebla e Veracruz, enquanto outro, o Cartel do Golfo, controlava a extração ilegal de hidrocarbonetos de oleodutos no estado de Tamaulipas. Isso levou a um aumento substancial das taxas de homicídio nos municípios atravessados pela infraestrutura dos oleodutos, com a violência também se espalhando para além desses locais.12Iván López Cruz e Gustavo Torrens, Hiddren drivers of violence diffusion: Evidence from oil siphoning in Mexico, “ Journal of Economic Behaviour and Organization (Fevereiro de 2023)
Certos grupos de pessoas próximos aos locais de extração de combustíveis fósseis sofrem um impacto único, dependendo da interseção de identidades, como raça, etnia, indigenismo, classe e casta, e sofrem de maneiras diferentes com a continuidade da violência em tempos de paz e de guerra. Foi amplamente demonstrado que a extração de combustíveis fósseis facilita a violência sistêmica e as violações dos direitos humanos, inclusive a violência de gênero, entre as comunidades marginalizadas. Os povos indígenas, por exemplo, foram e continuam sendo expostos aos impactos negativos dos combustíveis fósseis. Os projetos de infraestrutura de petróleo têm sido frequentemente locais de conflito, violência e resistência liderada por indígenas. No território do norte da Amazônia, no Peru, por exemplo, 566 derramamentos de petróleo foram registrados entre 1997 e 2021 em territórios ancestrais indígenas. Uma série de protestos resultantes entre 2019 e 2020, contra a empresa petrolífera canadense PetroTal e o governo peruano, foi recebida com extrema repressão. A polícia disparou contra os manifestantes, matando 15. Na América do Norte, a resistência pacífica dos povos indígenas na Reserva Indígena de Standing Rock, contra o oleoduto Dakota Access Pipeline, também foi recebida com força excessiva por autoridades estaduais, pela Guarda Nacional de Dakota do Norte e por PMSCs - incluindo spray de pimenta, revistas íntimas e um episódio em que pelo menos seis pessoas foram mordidas por cães de ataque.
A repressão militarizada dos povos indígenas, inclusive em torno de locais de infraestrutura de combustíveis fósseis, tem impactos exclusivos de gênero. Em um estudo produzido pelo Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, o grupo de especialistas enfatizou que o conflito sobre terras indígenas levou à agressão sexual, estupro coletivo, escravização sexual e assassinato de mulheres e meninas indígenas na Índia, Quênia, Mianmar, Nepal, Filipinas, Tailândia e Timor-Leste.13Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, “Impact of militarization on the rights of Indigenous Peoples” (Impacto da militarização sobre os direitos dos povos indígenas), 8 de agosto de 2023
O Tratado sobre Combustíveis Fósseis - uma ferramenta climática para a paz
Diante desse cenário de danos, uma transição rápida e justa dos combustíveis fósseis é indispensável para a construção de um mundo pacífico e sustentável. Além de aliviar a crise climática, a eliminação gradual dos combustíveis fósseis tem o potencial de proteger as comunidades das diversas maneiras pelas quais a exploração e a extração de combustíveis fósseis produzem e re-produzem desigualdades, violência, insegurança e conflitos.
O potencial pacificador da energia renovável depende de uma transição que seja justa e equitativa, garantindo oportunidades econômicas alternativas para países e comunidades que atualmente dependem das receitas dos combustíveis fósseis. A transição deve se basear na democracia energética e em sistemas descentralizados de produção de energia sustentados por uma propriedade pública equitativa, conforme abordado em outros artigos deste dossiê. Já existem muitas propostas para mitigar as perdas econômicas dos petróstatos do Sul Global e para mobilizar o financiamento público global - desde a Proposta de Imposto sobre Danos Climáticos até o cancelamento da dívida e outras políticas fiscais inovadoras. Essas oportunidades podem evitar as queixas e a violência que muitas vezes decorrem da falta de benefícios para as comunidades próximas aos locais de extração de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, criar apoio para esforços de transição justa em que os trabalhadores e as comunidades afetadas sejam incluídos de forma significativa na definição dos termos de uma agenda de eliminação gradual.
No entanto, ainda não existe um instrumento internacional vinculativo para acabar com a expansão do carvão, do petróleo e do gás e para garantir a transição. O Acordo de Paris, adotado em 2015, exige que os Estados limitem o aquecimento global a 1,5 grau, mas não há um roteiro de como isso deve ser feito, e os governos e as empresas estão se escondendo atrás de soluções falsas, como o "net zero", e de soluções tecnológicas não comprovadas, para continuar a queima de combustíveis fósseis. Como resultado, os governos de todo o mundo continuam a aprovar novos projetos de carvão, petróleo e gás que são incompatíveis com o objetivo do Acordo de Paris.
A proposta do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis é um mecanismo que pode promover a cooperação internacional e contribuir para o roteiro que está faltando no Acordo de Paris. A proposta do tratado inclui três pilares: 1) Uma transição global justa para sair da dependência dos combustíveis fósseis e aumentar o acesso à energia renovável; 2) Não proliferação de combustíveis fósseis, encerrando toda nova exploração e produção; e 3) Eliminação justa e equitativa dos combustíveis fósseis, com os maiores emissores históricos fazendo a transição mais rapidamente.
A proposta do Tratado inspira-se em outros tratados internacionais bem-sucedidos, como a Convenção para a Proibição de Minas Antipessoal, que contribuiu para reduzir o número de feridos e mortos em todo o mundo, e o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, que aumentou a estigmatização das armas nucleares e o desinvestimento das instituições financeiras nas empresas que as fabricam. A iniciativa do Tratado é liderada por uma rede crescente de países do Sul Global, incluindo Colômbia, Timor-Leste, Fiji e Antígua e Barbuda, entre outros, além de organizações globais da sociedade civil, como Anistia Internacional, Fridays for Future, Global Witness e Greenpeace. Ele é endossado por figuras proeminentes do movimento de justiça climática, bem como por acadêmicos, cientistas, jovens ativistas, profissionais de saúde, instituições religiosas, povos indígenas e centenas de milhares de outros cidadãos em todo o mundo.
A redução da dependência de combustíveis fósseis e a transição para a energia renovável não levarão automaticamente à paz global. A situação geopolítica também está em fluxo devido ao próprio aquecimento global, bem como aos incentivos econômicos emergentes dentro do sistema capitalista verde. Há muitas incógnitas, e o declínio dos petrostatos provavelmente causará tensão e conflito, enquanto a luta para garantir o acesso aos minerais essenciais necessários para alimentar as fontes de energia renovável representa outro risco. Embora o colonialismo verde, também discutido neste dossiê, produza seus próprios tipos de violência e deslocamento - como no caso do Congo, com a corrida pelo cobalto e pelo cobre, ou os impactos da extração de lítio no Salar do Atacama, no Chile -, há também uma maior concorrência global pela terra necessária para a construção de megaprojetos para a produção centralizada de energia renovável. Para evitar a concorrência perigosa e a probabilidade de conflitos entre Estados por causa desses recursos, os Estados devem promover a cooperação, o desarmamento, a confiança e a "diplomacia ecológica", concentrando-se mais intensamente em zonas frágeis e de conflito e mudando sistematicamente os poderes geoeconômicos, regulatórios, comerciais e multilaterais para esforços que promovam a paz e a estabilização socioecológica, em vez de aumentar a militarização, a concorrência e a desconfiança.
O resultado final é claro: não apenas devemos nos afastar dos combustíveis fósseis devido à sua destruição ambiental e à militarização que acompanha sua exploração, mas uma transição realmente significativa também deve acabar com a abordagem exploradora, patriarcal e colonialista da extração e exportação, em vez de permitir que isso também se torne a norma para a energia renovável. O desenvolvimento do pilar "transição justa" do Tratado sobre Combustíveis Fósseis é uma oportunidade de desafiar e transformar as estruturas e os sistemas que levaram aos graves impactos da extração e do uso de combustíveis fósseis, inclusive violações dos direitos humanos, violência, insegurança e guerra.
A energia renovável, portanto, só pode trazer paz se a extração de minerais essenciais e o uso de energia renovável estiverem situados dentro das demandas daqueles que estão na linha de frente da extração, dos conflitos, das desigualdades e da crise climática. Esse contexto também oferece uma oportunidade oportuna para incorporar as demandas de outros movimentos, como os proponentes do decrescimento, que pedem a redução do consumo global de energia, e os defensores da reforma agrária e da justiça fundiária, a fim de abordar outras fontes de emissões de gases de efeito estufa e destruição ecológica em uma estrutura para a paz.
___
Este artigo faz parte do dossiê de Transição Energética a ser lançado em março de 2025.
NOTAS DE RODAPÉ
- 1Katya Forsyth e Frederick Kerr, “The Toxic Relationship between Oil and the Military” (A relação tóxica entre o petróleo e as forças armadas)” Centro Global de Justiça Climática, 2 de março de 2022
- 2“O custo militar da defesa dos suprimentos globais de petróleo” Protegendo o futuro da energia nos Estados Unidos, 21 de setembro de 2018
- 3Jeff D. Colgan, “Oil, Domestic Politics, and International Conflict” [Petróleo, política interna e conflito internacional].” Pesquisa em energia e ciências sociais 1 (março de 2014)
- 4“The Carbon War: Accounting for the Global Proliferation of Russian Fossil Fuels and the Case for Unprecedented International Sanctions Response” (A Guerra do Carbono: Contabilizando a Proliferação Global de Combustíveis Fósseis Russos e o Caso para uma Resposta de Sanções Internacionais Sem Precedentes)” Razom We Stand, dezembro de 2023
- 5Stuart Parkinson e Linsey Cottrell, “Estimating the Military's Global Greenhouse Gas Emissions,” (Estimando as emissões globais de gases de efeito estufa das Forças Armadas)” Cientistas pela Responsabilidade Global e Observatório de Conflitos e Meio Ambiente, novembro de 2022
- 6Lennard de Klerk, Mykola Shlapak, Anatolii Shmurak, Oleksii Mykhalenko, Olga Gassan-zade, Adriaan Korthuis, Yevheniia Zasiadko, “Climate damage caused by Russia's war in Ukraine” (Danos climáticos causados pela guerra da Rússia na Ucrânia)” Iniciativa sobre Contabilidade de GEE de Guerra, Junho de 2023
- 7Nina Lakhani, “Emissions from Israel's War in Gaza have ‘immense’ effect on climate catastrophe” (Emissões da guerra de Israel em Gaza têm um efeito 'imenso' na catástrofe climática)” O Guardião, 9 de junho de 2024
- 8Micheal L. Ross, “Blood Barrels: Why Oil Wealth Fuels Conflict” (Barris de Sangue: Por que a Riqueza do Petróleo Alimenta Conflitos).” Relações Exteriores (2008)
- 9Victor Asal et al., “Political Exclusion, Oil, and Ethnic Armed Conflict” (Exclusão política, petróleo e conflitos armados étnicos).” Jornal de Resolução de Conflitos 60(8), (2016)
- 10Juan David Gutiérrez Rodríguez, “The connection between oil wealth and internal armed conflicts: Exploring the mechanisms of the relationship using a subnational lens,” (Explorando os mecanismos da relação usando uma lente subnacional)” As indústrias extrativas e a sociedade 6(2), (Abril de 2019)
- 11Paul Collier e Anke Hoeffler, “The Political Economy of Secession,” (2002)
- 12Iván López Cruz e Gustavo Torrens, Hiddren drivers of violence diffusion: Evidence from oil siphoning in Mexico, “ Journal of Economic Behaviour and Organization (Fevereiro de 2023)
- 13Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, “Impact of militarization on the rights of Indigenous Peoples” (Impacto da militarização sobre os direitos dos povos indígenas), 8 de agosto de 2023
ARTIGOS RELACIONADOS
Sovereigns of Brazil
Estamos agora no estágio Sopranos do imperialismo
O ‘Complexo Militar-Digital’ controla tudo?
Quem são os humanitários?
Por que a soberania digital é importante
Uma administração sem lei de Trump se descontrola no Caribe
Uma questão pós-social
A política da normalidade na Rússia e na Ucrânia em tempos de guerra
Sobre os limites do humanitarismo
A máquina humanitária: Gestão de Resíduos em Guerras Imperiais
Deslocamentos
Recuperando a soberania digital: Um roteiro para construir um ecossistema digital para as pessoas e o planeta
Partido Labour, ajuda externa e o fim da ilusão
Ecocídio: Explorando as raízes e as aplicações atuais do conceito
A Revolução Presa do Camponês
Humanitarismo ocidental: Saving Lives or Regulating Death?
Abordagens não alinhadas ao humanitarismo? Intervenções da Iugoslávia no movimento internacional da Cruz Vermelha na década de 1970
I. Introdução: Contendo o dossiê de política