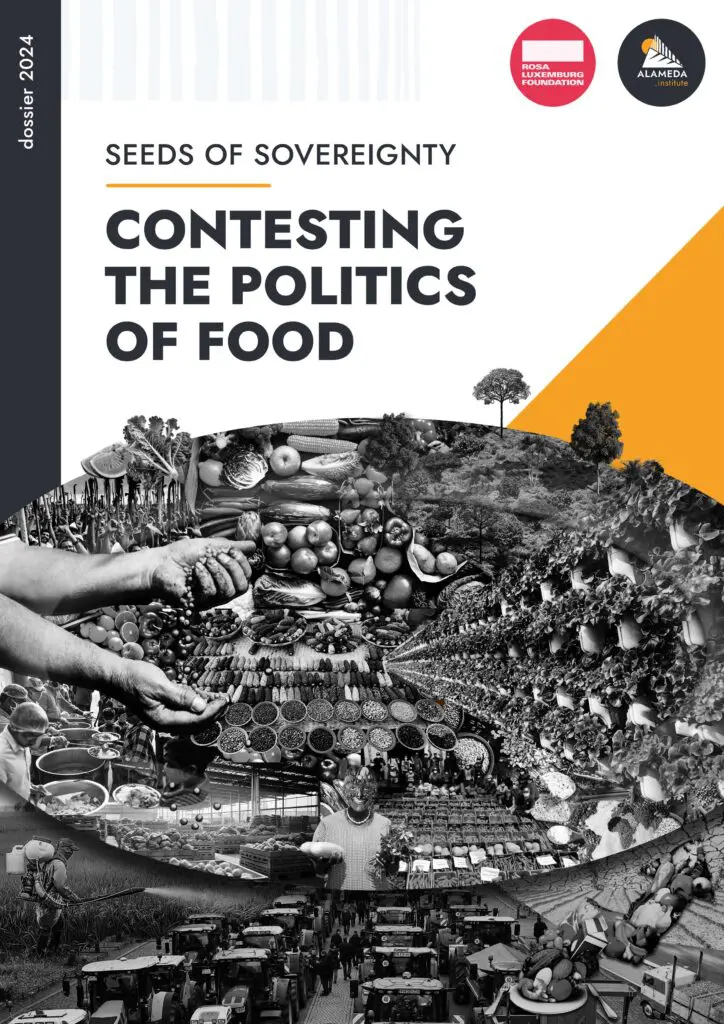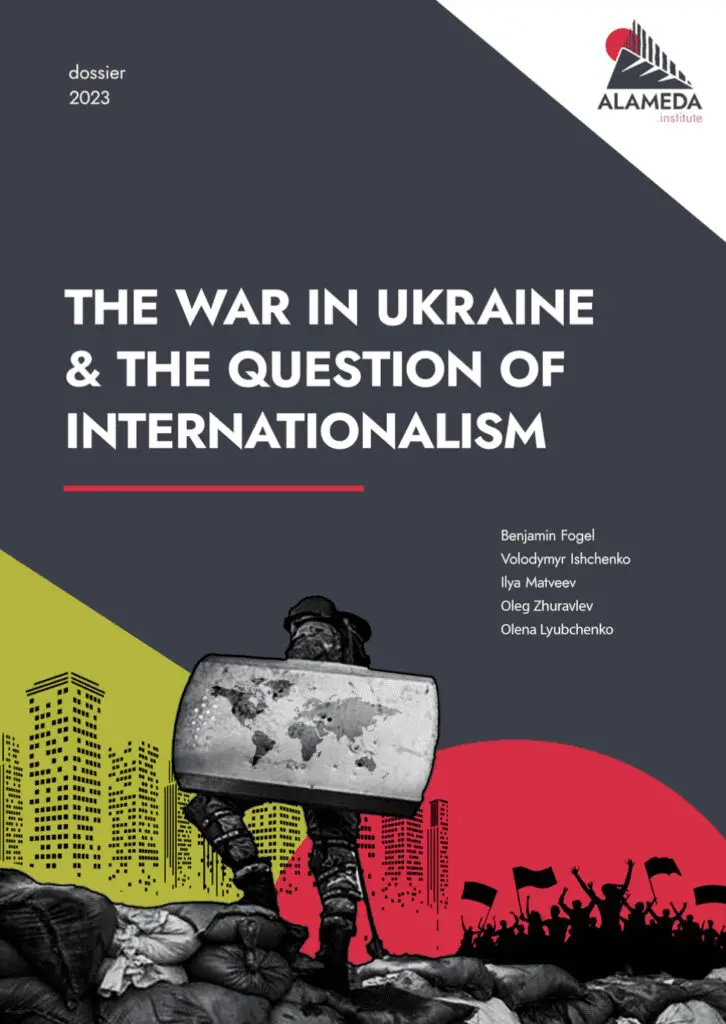Para escovar a história a contrapelo: junho, uma montagem
Nomeação: junho como paradigma
Vou nomear junho de 2013 apenas assim, sem recorrer a expressões consagradas como “Jornadas de Junho”, “Revoltas de Junho” ou as suas variações ao longo do tempo, como Junho de 2013 e Junho, com letra maiúscula. Pretendo estabelecer desde o início que não estou alinhada ao entendimento de que junho de 2013 tem o peso de um acontecimento, de algo inesperado, impensável, imprevisível ou impossível. Como pretendo argumentar, não é o caso das manifestações de rua de junho de 2013, que participam de uma dinâmica política em disputa há muito mais de dez anos e só irromperam inesperadamente para quem não estava prestando a devida atenção.
Olhar para junho exige pensar sobre os dois mandatos consecutivos do presidente Lula, oito anos em que o governo prometia enfim enfrentar as mazelas da desigualdade socioeconômica à qual estamos submetidos desde o início da nossa história colonial. Lula, no entanto, não pode ser compreendido sem uma análise da ascensão do PSDB de Fernando Henrique Cardoso ao poder em 1994, na sequência da eleição e do impeachment do presidente Collor, que caiu também dividindo as ruas entre os apoiadores de verde-amarelo e a oposição e suas bandeiras vermelhas. De passo atrás em passo atrás, pensar em junho nos levaria de volta ao golpe civil-militar de 1964 – outro episódio entre “patriotas” e “comunistas”, a anistia ampla, geral e irrestrita de 1979, a campanha das Diretas-Já em 1984, ao grande acordo da Nova República em 1985, à Constituinte de 1988, não sem antes passar pelo suicídio de Getúlio Vargas em 1954. A história presidencialista desde a Proclamação da República é feita de rupturas e suas respectivas acomodações.
Nesse caminho retrospectivo, poderíamos voltar ao confronto entre multiculturalistas e “pós-modernos”, sendo os primeiros apresentados como os promotores de consensos ditos pacíficos e os segundos os acusados de arautos da fragmentação, da desconstrução e da destruição. O atual diagnóstico de enfraquecimento da democracia reconheceria, antes de mais nada, o fracasso das práticas de diálogo e tolerância e as dificuldades de operar no campo das alianças contingentes. Nesse sentido, junho é tão processual que até poderia localizar sua origem nas querelas teóricas em marcha desde o final do século passado.
No cenário econômico, é preciso recuar a 2009, quando a derrocada bancária nos EUA por causa das hipotecas varreu os mercados financeiros internacionais, aprofundou a crise econômica e colocou e economia brasileira no circuito do fluxo do capital estrangeiro. oferecendo suas capitais para sediar grandes eventos – Copa do Mundo, 2014; Olimpíadas, 2016 – e assim fazer o dinheiro circular. Para poucos, é claro.
Há em junho de 2013 elementos que podem servir como chave de compreensão do nosso passado político – recente ou mais longínquo, a depender do interesse de quem analisa e com qual interesse o faz. Por uma perspectiva, junho teria sido um momento único na história dos movimentos de esquerda, que tomaram as ruas a fim de exigir a ampliação de direitos que estavam então sob ameaça de retrocessos. Visto assim, as conquistas obtidas nos dois primeiros mandatos do presidente Lula haviam se tornado insuficientes para aplacar o tamanho da desigualdade brasileira. e o crescimento do acesso à universidade teria ainda contribuído para gerar frustação em uma juventude que buscava mobilidade social via educação1 Essa perspectiva tão otimista a respeito do acesso à educação pode ser interrogada a partir de pesquisa realizada por Carlos Costa Ribeiro sobre mobilidade social pela via da educação. Segundo ele, as transições educacionais não têm sido suficientes para aplacar desigualdades de raça e de classe. Discuto mais a respeito no meu artigo “Mais que um, menos que dois”, publicado na Revisa Hum(e)anas: <https://revista.estudoshumeanos.com/wp-content/uploads/2020/04/v.7.n2.2019.6.95-104.pdf>. É uma abordagem muito conveniente a esse governo, porque torna estéril as reivindicações pelo direito à cidade e ao campo, pela mobilidade, aqui tomada no seu sentido mais amplo. Por esse caminho, as manifestações de junho são acusadas de terem sido uma oportunidade, produzida pela esquerda – que se equivocava ao ir às ruas contra governos do PT –, para a emergência de forças de ultradireita, as quais já estavam à espreita de uma brecha para se fortalecer como oposição. É relativamente confortável localizar em um suposto radicalismo da esquerda a responsabilidade pela emergência das forças de extrema direita – que, no entanto, sempre estiveram aí2 Gostaria de indicar meu artigo “Saídas da grande noite colonial”, publicado na revista Estilhaço, como referência para esse problema de uma extrema direita que sempre este aí. < https://www.xn--estilhao-y0a.com.br/saidasdagrandenoitecolonial>. Na mesma edição, artigo de Deivison Faustino, <https://www.xn--estilhao-y0a.com.br/oqueveioantesdofascismo>.
As ruas, aqui entendidas como espaço público e político, sempre foram objeto de disputa, com fluxos e refluxos, golpes e contragolpes, lutas de resistências por hegemonia. Nessa forma de compreender a quase-sociedade3 Escolhi usar essa expressão para facilitar a referência ao extenso debate iniciado por Antônio Cândido, seguido por Roberto S. e Paulo Arantes, que consideram que nunca chegou a se formar isso que chamamos de “sociedade brasileira”. brasileira, seus atores e atrizes, junho é mais um momento – mesmo que muito expressivo – de embate no qual as forças populares de esquerda são levadas de roldão por grandes acordos costurados pelas elites. Se há uma novidade, não é no revés em si, mas na sua dimensão destruidora do grande consenso nacional sobre o qual se assentava a retomada democrática desde os anos 1980. Que junho represente o fim da Nova República, hoje parece uma proposição evidente. O difícil de explicar talvez ainda seja porque a crise do sistema de pactos, acordos e o consensos demorou tanto a ser fortemente contestado4A este respeito, é vasta a produção do filósofo Marcos Nobre e seu diagnóstico de “fim do peemedebismo”. Aqui, esse fim é comemorado, na medida em que os consensos políticos que marcaram o início da Nova República – aí incluída a anistia aos militares – são por mim entendidos como sinais violentos de rejeição à participação popular. Ver também argumentação do filósofo Vladimir Safatle em capítulo do livro “Junho de 2013: a rebelião fantasma”, Boitempo, 2023, e nesta entrevista <https://istoe.com.br/2013-marcou-o-fim-da-nova-republica/>.
No meu argumento, junho é paradigmático. No sentido que o filósofo italiano Giorgio Agamben confere ao termo, paradigma é uma metodologia para fazer com que certos fenômenos sejam inteligíveis, dispondo singularidades lado a lado. O paradigma supõe a possibilidade de produzir clivagens no interior de um arquivo cronológico em si inerte, a fim de torná-los legíveis. É assim que pretendo extrair de junho características que estabelecem um padrão para o que virá a ocorrer no interior dos movimentos sociais de esquerda, mais especificamente, dentro do campo feminista. Quero me valer da já estabelecida dicotomia entre dois polos – junho foi uma explosão social de esquerda versus junho foi a porta aberta pela esquerda para a expansão da ultradireita – para encontrar no interior dos movimentos feministas um tipo de divisão muito parecida. Em uma espécie de mimese, os feminismos começam a reproduzir no seu núcleo aquilo que, lá fora, já se consolidava como “polarização”, repetindo internamente a divisão posta nas ruas.
Quem, nós, feministas?
Tomo como premissa o fato histórico de que os movimentos feministas são marcados – e, até um ponto, historicamente sempre se orgulharam disso – por uma heterogeneidade interna. Existem as intelectuais teóricas e as ativistas, com boas doses de interseções entre elas. No primeiro grupo, há abordagens marxistas, socialistas, pós-estruturalistas, existencialistas, apenas para citar as correntes mais óbvias. No grande campo das ativistas, há mulheres brancas, negras, indígenas, rurais, lésbicas, radicais, trans… E em cada um desses campos é possível de novo encontrar subdivisões internas. Em certa medida, são essas tensões que produzem as possibilidades de abertura para mudanças, em vez dos grandes consensos da política tradicional. Agonístico ou movido por alianças contingentes os movimentos de mulheres não são nem nunca foram unívocos, sem, no entanto, nunca terem deixado de estar ligados por um mínimo denominador comum: a emancipação das mulheres, aqui entendida como libertação do jugo, do poder e da opressão do patriarcado.
A partir daí, já não há mais consenso. Diverge-se em relação ao que o termo “mulher” representa; não está dado que toda feminista é crítica ao poder dos homens, como apontam certos grupos de mulheres negras; nem todas as feministas estão de acordo com o uso do conceito de patriarcado, cujo sentido pode variar histórica e temporalmente; as feministas radicais não aceitam mulheres trans no campo feminista. Não existe acordo nem mesmo nas pautas mais permanentes, como o combate à violência – são grandes as disputas entre punitivistas e anti-punitivistas – ou a descriminalização do aborto. Embora pesquisas apontem que são principalmente as mulheres negras e pobres as mais prejudicadas pela proibição do aborto, ainda assim existe uma crítica importante a ser considerada, a de que o feminismo branco ignoraria a luta das mulheres negras pelo direito à maternidade, tantas vezes interrompida pela violência policial contra crianças e jovens negros5Discuto esse problema no artigo “Nem presa, nem morta nem imoral”, aqui: <https://futurodocuidado.org/nem-presa-nem-morta-nem-imoral/>.
Existem feministas articuladas internacionalmente, assim como existem as que consideram infrutífero qualquer diálogo com as mulheres do Norte global; há mulheres conectadas em grupos latino-americanos e outras que afirmam a centralidade do trabalho nas periferias em detrimento de outras articulações. Apesar de tudo isso, no caso brasileiro, as organizações de mulheres estiveram juntas inúmeras vezes desde o início da redemocratização. É notável, por exemplo, o empenho feminista na luta por escrever e ampliar direitos na Constituição de 19886Ótima recuperação desta história da luta das mulheres na Constituinte no podcast “Jogo de cartas”, aqui: <https://www.deezer.com/br/show/5767617>. As manifestações no 8 de março são também um caso de alianças internas e superação de divergências em prol de lutas comuns. Antes e depois de junho de 2013, muitos desses grupos estavam e permaneceram nas ruas.
Até porque o campo feminista andava desassistido desde o primeiro mandato de Lula. A expectativa otimista, resultado da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, presidida pela médica Nicéa Freire, esfriou em 2005. Um acordo promovido pelo Executivo com as forças religiosas do Legislativo impediu a votação de projeto de lei de descriminalização do aborto no qual as feministas haviam trabalhado duro por três anos. Como eu dizia, o caminho de volta ao passado pode ser muito longo.
Antes e depois do golpe
Quando o segundo mandato de Lula termina e ele dá posse à Dilma Rousseff, celebrando a vitória da primeira mulher a assumir a presidência da República – e não qualquer mulher, mas uma ex-guerrilheira que havia lutado contra a ditadura de 1964 –, fornece a falsa impressão de que haveria uma radicalidade à esquerda, enquanto, na prática, seria preciso fazer ainda mais concessões à governabilidade dos acordos de gabinete. Dilma herdara as estratégias de conciliação costuradas por Lula no segundo mandato, fragilizado pelas denúncias do Mensalão, que irrompem à direita pela figura do deputado Roberto Jefferson (PTB). Lula havia aprofundado o caminho do grande consenso, deixando à margem das políticas públicas contingentes de eleitores e eleitoras do campo da esquerda e menosprezando – ou, talvez seja melhor dizer, ignorando – as reivindicações daí advindas. Além do mais, é importante sempre lembrar, a misoginia impregnada na sociedade brasileira contamina o mandato de Dilma desde o seu início. E, para completar, a presidenta nunca chegou a ser identificada como feminista, o que fez com que o movimento de mulheres tenha se mantido com ela em estado permanente de tensão.
Há uma história prévia de ocupação das ruas por parte de movimentos de esquerda – com destaque para o Movimento Passe Livre, que, em São Paulo, organizava manifestações contra o aumento de 0,20 centavos nas passagens de ônibus –, e de reivindicações de mobilidade urbana, como descrevem os livros recentes de Angela Alonso e Roberto Andrés7Respectivamente, Angela Alonso, Treze (Cia da Letras, 2013) e Roberto Andrés, A razão dos centavos (Zahar, 2013).. Em relação ao governo Lula, também se dirigiam reivindicações de mobilidade socioeconômica. Havia um campo popular de esquerda nas ruas muito antes de junho. Só que a esquerda não estava sozinha. Era abril de 2010 quando a Igreja Universal do Reino de Deus ocupou o Aterro do Flamengo, com quase um milhão de pessoas mobilizadas pelo chamado “Dia D”, evento simultâneo em todas as capitais do país e de proporções gigantescas no Rio de Janeiro, cidade que então já ostentava o segundo lugar no ranking das capitais de maior eleitorado evangélico.
Os encontros entraram para o calendário político-religioso da Iurd e se repetiram em todos os anos seguintes. Em 2009, o governo federal instituiu uma data nacional para a Marcha para Jesus, cujas mobilizações são cada vez mais resultado de reivindicação de representatividade dos neopentecostais na vida política do país. Foi também em julho de 2013 que a Igreja Católica organizou a Jornada Mundial da Juventude, com a presença do recém-nomeado Papa Francisco, e com uma demonstração de força nas ruas, onde milhares de fiéis protestavam contra a descriminalização do aborto distribuindo miniaturas de embriões. A bandeira do aborto estará no centro da disputa político-religiosa que incluiu uma série de protestos contra a nomeação do pastor Marcos Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, em março de 2013.
Dois anos depois, o deputado Eduardo Cunha, rompido com a base aliada do governo, apresenta o Projeto de lei 5069, que retirava direitos de acesso ao aborto legal em caso de estupro. Artífice do golpe parlamentar que derrubou Dilma, Cunha conseguiu emparedar as feministas. O projeto nos empurrou para as ruas, por razões óbvias: era preciso defender os direitos já conquistados. Foi por iniciativas como essa que “resistir” virou palavra de ordem. Os protestos das mulheres configuraram-se uma oportunidade perfeita, armada deliberadamente pela ultradireita religiosa a fim de nos acusar, uma vez mais, de “aborteiras”, “bruxas”, “destruidoras da família” ou “assassinas de crianças”. Interessa observar alguns aspectos: os protestos contra o PL fizeram parte da “primavera das mulheres”, indicando a construção de uma ligação com as primaveras internacionais. Imperava o que vou chamar de “lógica da resistência”. A partir de um certo momento, passamos apenas a reagir aos ataques da direita, num círculo infernal – vamos para as ruas protestar, perdemos, e a direita ainda se aproveita dos nossos protestos para nos difamar nas redes sociais.
O terceiro e último fenômeno é mais complexo e diz respeito aos “discursos de ódio” dentro do próprio campo progressista. Pelo uso desses discursos de ódio, eu mesma corro o risco de ser execrada por parcela significativa de feministas, aquelas que consideram o pensamento crítico uma traição. Se quero combater os discursos de ódio dentro do campo feminista é por acreditar ser fundamental retomar um ponto teórico que há muito me mobiliza: são políticos os próprios termos em que fazemos política8Em Arquitetura das arestas (Autonomia Literária, 2022), Edmilson Paraná e Gabriel Tupinambá discutem o problema das formas de organização no campo da esquerda. No recém-lançado Nem vertical nem horizontal, (Ubu Editora, 2023) Rodrigo Nunes aborda o mesmo tema.. Se os termos estão dados pelos adversários, então, a política passa a ser apenas um jogo especular em que, de um lado ou de outro do espectro ideológico, o comportamento é idêntico. Essa indistinção no modo de fazer – reativa, violenta, punitivista e preconceituosa a partir de argumentos morais – promoveu, no meu entendimento, fenômenos diretamente relacionados entre si: a fragmentação da esquerda e a coesão da direita.
Fragmentação porque a certa altura importava mais lutar contra uma possível aliada e porque junho enterra de vez a possibilidade de seguir fazendo política à base de consensos. Esta era uma estratégia vitoriosa quando os pleitos se dirigiam a inimigos em comum. Esse tipo de união tinha sido usado em 1984 e 1993, respectivamente pelas Diretas e pelo impeachment do Collor, e provou-se esgotado para os movimentos populares de esquerda principalmente a partir do segundo mandato de Lula. De minha parte, acrescento que as mulheres chegaram a se mobilizar contra o golpe, na mesma lógica de união contra um inimigo comum. Tarde demais, é verdade. Quando voltamos para as ruas em apoio ao governo Dilma, já não havia muito mais a fazer e as pressões no parlamento já eram, como sempre são, muito mais fortes que a força popular.
Uso como exemplo a Marcha das Margaridas. A primeira manifestação reuniu mulheres do campo e da floresta e faz parte da agenda do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, com mobilizações anuais que passaram a levar à Brasília milhares de mulheres envolvidas em questões ambientais e direito à terra. Era ainda governo Lula quando as mulheres rurais decidiram ocupar Brasília uma vez por ano e apresentar suas reivindicações. Essas mesmas mulheres que, desde 2011, caminhavam para Brasília exigindo seus direitos, em 2016, estavam na Praça dos Três Poderes apoiando o mandato de Dilma, um dos muitos movimentos de mulheres que tentou ressignificar as manifestações, que agora precisavam ser contra o golpe. Se os extremos à direita e à esquerda estavam nas ruas, o governo estava onde sempre esteve, tentando se equilibrar ao centro. Em muitas análises, porque esse é o único lugar a partir do qual se pode gerir o país. As rupturas foram empurradas para as margens, onde estranhamente se encontraram.
A Slutwalk nasceu em 2011, em Toronto, Canadá, puxada por jovens universitárias, depois de inúmeros casos de estupro próximos ao campus. No Brasil, onde alguns movimentos feministas têm articulação internacional, a primeira Marcha das Vadias acontece no mesmo 2011, mas só a partir de 2013 ganhará dimensão nacional, com manifestações simultâneas em quase todas as capitais. Pesquisa sobre a dinâmica de organização da Marcha das Vadias no Rio de Janeiro em 2014 mostra divergências internas entre mulheres brancas e mulheres negras, estas críticas ao uso do termo “vadias” como incapaz de “representar experiências particulares de mulheres de diferentes raças e etnias”9Estou me referindo ao trabalho de de Letícia Ribeiro, Brena O’Dwyer e Maria Luiza Heilborn no artigo“Dilemas do feminismo e a possibilidade de radicalização da democracia em meio às diferenças: o caso da Marcha das Vadias do Rio de Janeiro”. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/27560>
. Interessante notar que o problema de a quem os feminismos podem representar, formulado por Judith Butler desde os anos 1990 em Problemas de gênero, retorna, já no âmbito de um momento político marcado também pela crise da representação instalada na política oficial.
Nenhum dos dois sintagmas – feministas brancas ou feministas negras – configuram grupos homogêneos, o que não impediu que se estabelecessem divergências acirradas na organização da marcha, amplificadas no interior de cada um desses dois grandes grupos. Para as mulheres negras, o direito à sexualidade esbarra no estigma histórico de terem seus corpos hiperssexualizados, anulando a estratégia de subversão do termo “vadias”. Parte das mulheres negras recusa o termo “feminismo”, o conceito de gênero é recusado tanto por feministas descoloniais quanto por feministas radicais, emergindo daí uma forte e surpreendente aliança contra a categoria epistemológica tida como colonizadora, no argumento das primeiras ou como estratégia de apagamento das “mulheres verdadeiras”, no argumento das segundas. Some-se a isso o crescimento das terfs –Trans-Exclusionary Radical Feminism ou feminismo radical transexcludente, infelizmente associado à adesão a proposições de extrema direita, como a negação do conceito de gênero em prol da defesa de uma “mulheridade” que faz o feminismo retornar aos fundamentos essencialistas dos quais pretendia ter se libertado.
Quando, nas eleições de 2018, o candidato Jair Bolsonaro passou para o primeiro lugar das pesquisas, feministas e comunidade LGBTQIA+ organizaram manifestações políticas movidas pela hashtag #elenão, o que mais uma vez produziu rupturas. As ruas mostravam força ou fraqueza? As manifestações estavam contribuindo para que o campo conservador tivesse ainda mais medo de um candidato de esquerda e, com isso, ajudavam a candidatura de Bolsonaro? Estas foram algumas das acusações dirigidas aos movimentos de mulheres e que interpreto como indício de que havia mais divergências do que consensos.
Depois da vitória de Bolsonaro, a nomeação de Damares Alves para o Ministério da Família completou um ciclo de rupturas internas. Promovendo ações em nome das “mulheres”, ela tornou terra arrasada os tímidos avanços dos oito anos de mandatos de Lula e os ainda mais tímidos avanços dos seis de Dilma. Enquanto tratava de aparelhar os conselhos tutelares, Damares usou o arcabouço das pautas políticas feministas contra o feminismo, promovendo ações de governo similares ao assistencialismo das décadas de 1950/60. A família e seu caráter essencialista fez as pontas extremas se encontrarem: de um lado, o neofascismo e sua defesa da família tradicional; de outro o “feminismo de direita”, contrários às reivindicações dos direitos das mulheres e da população LGBTQIA+.
Damares, e com ela uma série de prefeituras e governos estaduais à direita, se empenharam em levar às mulheres um tipo de apoio que reforçava o lugar essencialista em nome de qualidades ditas femininas. O resultado é espantoso, mas não surpreendente. Em seu núcleo, o campo feminista tradicional se esgarça, enquanto a direita navega numa onda de retrocesso em relação aos próprios temas pelos quais se pretendia lutar, como combate à violência, geração de emprego, acesso à saúde etc. Desde então, é crescente a apropriação de pautas tidas como feministas pela ultradireita. Se de um lado e do outro os problemas são os mesmos, então, mais uma vez, tornam-se políticos os próprios termos em que se faz política.
Na extrema direita, forças religiosas se unem ou mesmo se misturam a grupos de direita a fim de mobilizar um dos afetos mais poderosos da política, o medo. O recurso ao pânico moral, nosso velho conhecido – e muito bem documentado pela antropóloga estadunidense Gayle Rubin nos anos 1980 – tem sido uma arma poderosa para a aliança das mulheres com o neofascismo10Estou me referindo ao artigo “Pensando o sexo: notas para uma teoria radical da política da sexualidade”, cujo original é de 1982. A autora explora a relação estabelecida pela direita entre a prática sexual fora da família, o comunismo e a fraqueza política, e chama a atenção para como, desde o final dos anos 1970, cresce, a oposição de direita à educação sexual, à homossexualidade, à pornografia, ao aborto e ao sexo antes do casamento.. No meu argumento, essa união tanto se vale da fragmentação do campo da esquerda quanto a promove. Junho nos enfiou nessa armadilha. São inseparáveis causa e causalidade, origem e consequência, atando um intrincado nó, em que o pronome “nós” passa a ser usado numa estranha ambiguidade.
O clichê do ovo da serpente e 2014 no meio do caminho
Já ponderei que interessava ao governo Lula sustentar a interpretação de que junho de 2013 foi a porta aberta para a entrada das forças de extrema direita na política. Agora vou seguir muito de perto a pesquisa do cientista político Fernando Limongi e sua afirmação de que não foram os movimentos de rua que derrubaram Dilma Rousseff do poder. Em Operação impeachment (Todavia, 2023), ele defende a hipótese de que Dilma caiu porque seu apoio inicial às investigações de corrupção na Petrobras foram desagradando e ameaçando a classe política, pouco afeita a ações anticorrupção. Quanto mais a Lava-Jato avançava, mais ela perdia apoio, até mesmo do PT. Não deixa de ser uma curiosidade histórica que a Petrobras esteja na origem do impeachment de Dilma, considerando que a mesma Petrobras esteve neste mesmo lugar em relação ao impeachment de Fernando Collor, cujas primeiras acusações emergem quando o então presidente da estatal, Luiz Octávio Motta Veiga, pede demissão do cargo denunciando a ação deletéria de PC Farias na empresa.
Em 2016, lembra Limongi, quando o impeachment é votado, primeiro na Câmara e depois no Senado, as ruas já haviam arrefecido, apesar de todos os esforços do PSDB de apoiar os movimentos populares de extrema direita. Aqui, vale lembrar que se junho não começou em 2013, também não acabou ali. O PSDB soube muito bem arregimentar a força popular de direita para legitimar a decisão do então candidato Aécio Neves de não reconhecer o resultado das eleições de 2014. De qualquer lugar de onde se olhe, essa iniciativa tem muito mais importância no processo de chocar o ovo da serpente, justo por ser uma ruptura institucional. Não por acaso, é a este momento que Bolsonaro em 2022 retoma para questionar a lisura das urnas eletrônicas e pretender melar o processo eleitoral.
O “ovo da serpente” não foi chocado pela esquerda popular porque esse ovo foi gestado, alimentado, fomentado e financiado no ninho tucano, reproduzindo no neofascimo à brasileira um esquema tradicional europeu do século XX: o fascismo emerge da aliança entre o poder conservador e uma força política que se apresenta como “novidade”, seguindo aqui a explicação de Robert O. Paxton11Anatomia do fascismo. Record, 2007.. Aos poucos, de 2014 em diante, a aliança entre o conservadorismo tucano e a falácia de um candidato anti-sistema, representado por Jair Bolsonaro – político que, como deputado integrava o chamado baixo clero do Congresso e como militar é capitão representante das baixas patentes e dos porões da ditadura – foi fazendo do PSDB uma espécie de refém do neofascismo que o partido havia fomentado.
Nisso que logo nos acostumamos a chamar de “polarização”, não há equivalência entre os dois polos. Além dos argumentos explorados por tantas vozes defensoras da democracia – só um dos polos está de fato no frágil campo democrático brasileiro, enquanto o outro se empenha em corroer a democracia por dentro –, existe essa ainda dificuldade de o campo da esquerda encontrar novas formas de fazer política e, portanto, reconhecer que a extrema direita já dominou todas as que nos eram próprias, como a radicalidade e a mobilização popular, para ficar só em dois exemplos evidentes12Seria preciso uma pesquisa extensa e mais espaço para discutir o papel que os think tanks de ultradireita, com financiamento internacional, tiveram na formação de lideranças. Uma pequena amostra do problema aqui: https://diplomatique.org.br/think-tanks-ultraliberais-e-nova-direita-brasileira/. É um dos motivos porque tenho recusado a expressão “bolsonarismo”, a esta altura consagrada entre analistas políticos para se referir ao tipo de fascismo instalado no Brasil13Recuso, não sem reconhecer a importância e o pioneirismo das pesquisas da antropóloga Isabela Kalil e seu uso específico do termo bolsonarismo como indicação da clivagem entre a figura do ex-presidente e a persistência de um ideário fascista enraizado na sociedade brasileira.. Rejeito a denominação por acreditar que nela se esconde a articulação internacional da ultradireita que ofereceu sustentação ao governo de Bolsonaro, mas que teria feito o mesmo por qualquer outro político adequado ao papel.
Ainda que Bolsonaro fosse muito conveniente – defensor despudorado da ditadura civil-militar, encarnava melhor do que ninguém a oposição à ex-guerrilheira Dilma –, importa para mim acentuar as ligações internacionais, porque são com elas que estão conectados os feminismos de direita, em circuitos que vão da Inglaterra anti-trans ao fim dos estudos de gênero na Hungria. Para os feminismos do campo de esquerda, as pautas de combate ao reconhecimento das pessoas trans são um exemplo cabal de articulação com os grupos de ultradireita14Edição especial da revista Transgender Studies Quarterly traz um amplo debate sobre essas ligações. < https://read.dukeupress.edu/tsq/article/9/3/311/319375/IntroductionTERFs-Gender-Critical-Movements-and>. A luta pela hegemonia no campo feminista não é, infelizmente, um fenômeno brasileiro, ainda que as colorações locais confiram um caráter específico a esta disputa.
Antes de terminar, ainda seria preciso fazer menção ao uso das redes sociais, com frequência convocadas para explicar o “fenômeno junho”. Isso que hoje conhecemos como redes sociais cresceram no rastro da chamada web 2.0, que numa era pré-algoritmo já convocava ao engajamento e à participação horizontal15É notável que o “mito de origem” da web 2.0 esteja situado no uso dos recém-criados blogs, que serviram, nos EUA, como ferramenta de conexão entre as pessoas sobreviventes do 11 de setembro e foram impulsionados, a partir dali, como o melhor exemplo de horizontalidade entre emissor-receptor de mensagens, superando, portanto, o modelo verticalizado da mídia tradicional.. É no mínimo paradoxal pretender atribuir a redes controladas por grandes corporações a capacidade de mobilizar movimentos populares de esquerda. Como dizia o velho Marshall McLuhan, o meio é a mensagem, e nas redes dominadas pelo novíssimo espírito do capitalismo, há pelo menos duas mensagens em constante circulação: enquanto trabalha, fragmente-se! Enquanto descansa, goze, goze, goze!
Para repetir a formulação de Achille Mbembe, as redes tornam-se pulsionais. Se antes a gestão da vida social por consenso exigia a moderação de pulsões individuais em prol de acordos, a fragmentação opera para liberar as pulsões individuais do “mal-estar da civilização” – o que se espelha no comportamento de líderes de extrema direita, que aparecem ao público como pura espontaneidade, dizendo tudo que querem dizer, sem concessões à liturgia do cargo. Trump e Bolsonaro são os dois melhores exemplos dessas pulsões descontroladas16Como alegoria, remeto os leitores/as à série inglesa Years and Years, veiculada no Brasil pela HBO. Desde o início, a candidata que encarna a extrema-direita usa exatamente esse tipo de estratégia, ao propor em um debate de TV que antes de votar os eleitores deveriam se submeter a um teste de QI, provocando reações de espanto justamente por estar sendo sincera demais, fugindo, portando, do jogo do que pode ou não ser dito na política. A cena faz parte do trailer oficial, aqui < https://www.youtube.com/watch?v=SY41jhIP_xI.>. Vistos assim, os cartazes individuais com as mais variadas reivindicações seriam exemplo de pulsões liberadas, ou como um jeito de cada um dizer com o que quer gozar. Para completar, as redes tornaram-se terreno fértil para exposições liberadas de todo tipo de machismo e misoginia, com as mulheres protestando de um lado e, de outro, os algoritmos impulsionando a reatividade.
Aqui, gostaria de retomar o argumento inicial: o que me faz interpretar junho de 2013 como paradigma é interrogar a compreensão vulgar de que a vitória da extrema direita foi uma reação à radicalização da esquerda nas ruas. A quem serve essa hipótese é uma pergunta pertinente. É fácil perceber que serve para que um certo campo da esquerda ignore as suas muitas contradições: a defesa de uma institucionalidade forte, mas a serviço dos poderosos de sempre; a reivindicação democrática sem a crítica à democracia de baixa intensidade em vigor no Brasil; a inclusão pela via do consumo e os seus devidos limites, muitos deles, inclusive, apontados pelas manifestações de rua; a gestão de população excedente por políticas de segurança e encarceramento violentas e virulentas; a cegueira em relação ao racismo e ao sexismo estruturais, classificados pejorativamente de “identitarismo”; a dificuldade de buscar governabilidade nos movimentos sociais, preferindo a suposta segurança dos acordos de gabinete – os mesmos que não ofereceram sustentação à Dilma nem evitaram o golpe de 2016 – são alguns dos impasses que ainda permanecem, apesar do bom resultado das urnas em 2022 e do alívio da saída de Jair Bolsonaro da presidência. Por tudo isso, entendo que junho de 2013 não é uma fotografia, uma imagem congelada, mas um filme em movimento, ainda em processo de montagem, cujas cenas finais não aconteceram na rampa do Palácio do Planalto nem em 1 de janeiro nem em 8 de janeiro de 2023.
FOOTNOTES
- 1Essa perspectiva tão otimista a respeito do acesso à educação pode ser interrogada a partir de pesquisa realizada por Carlos Costa Ribeiro sobre mobilidade social pela via da educação. Segundo ele, as transições educacionais não têm sido suficientes para aplacar desigualdades de raça e de classe. Discuto mais a respeito no meu artigo “Mais que um, menos que dois”, publicado na Revisa Hum(e)anas: <https://revista.estudoshumeanos.com/wp-content/uploads/2020/04/v.7.n2.2019.6.95-104.pdf>
- 2Gostaria de indicar meu artigo “Saídas da grande noite colonial”, publicado na revista Estilhaço, como referência para esse problema de uma extrema direita que sempre este aí. < https://www.xn--estilhao-y0a.com.br/saidasdagrandenoitecolonial>. Na mesma edição, artigo de Deivison Faustino, <https://www.xn--estilhao-y0a.com.br/oqueveioantesdofascismo>
- 3Escolhi usar essa expressão para facilitar a referência ao extenso debate iniciado por Antônio Cândido, seguido por Roberto S. e Paulo Arantes, que consideram que nunca chegou a se formar isso que chamamos de “sociedade brasileira”.
- 4A este respeito, é vasta a produção do filósofo Marcos Nobre e seu diagnóstico de “fim do peemedebismo”. Aqui, esse fim é comemorado, na medida em que os consensos políticos que marcaram o início da Nova República – aí incluída a anistia aos militares – são por mim entendidos como sinais violentos de rejeição à participação popular. Ver também argumentação do filósofo Vladimir Safatle em capítulo do livro “Junho de 2013: a rebelião fantasma”, Boitempo, 2023, e nesta entrevista <https://istoe.com.br/2013-marcou-o-fim-da-nova-republica/>
- 5Discuto esse problema no artigo “Nem presa, nem morta nem imoral”, aqui: <https://futurodocuidado.org/nem-presa-nem-morta-nem-imoral/>
- 6Ótima recuperação desta história da luta das mulheres na Constituinte no podcast “Jogo de cartas”, aqui: <https://www.deezer.com/br/show/5767617>
- 7Respectivamente, Angela Alonso, Treze (Cia da Letras, 2013) e Roberto Andrés, A razão dos centavos (Zahar, 2013).
- 8Em Arquitetura das arestas (Autonomia Literária, 2022), Edmilson Paraná e Gabriel Tupinambá discutem o problema das formas de organização no campo da esquerda. No recém-lançado Nem vertical nem horizontal, (Ubu Editora, 2023) Rodrigo Nunes aborda o mesmo tema.
- 9Estou me referindo ao trabalho de de Letícia Ribeiro, Brena O’Dwyer e Maria Luiza Heilborn no artigo“Dilemas do feminismo e a possibilidade de radicalização da democracia em meio às diferenças: o caso da Marcha das Vadias do Rio de Janeiro”. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/27560>
- 10Estou me referindo ao artigo “Pensando o sexo: notas para uma teoria radical da política da sexualidade”, cujo original é de 1982. A autora explora a relação estabelecida pela direita entre a prática sexual fora da família, o comunismo e a fraqueza política, e chama a atenção para como, desde o final dos anos 1970, cresce, a oposição de direita à educação sexual, à homossexualidade, à pornografia, ao aborto e ao sexo antes do casamento.
- 11Anatomia do fascismo. Record, 2007.
- 12Seria preciso uma pesquisa extensa e mais espaço para discutir o papel que os think tanks de ultradireita, com financiamento internacional, tiveram na formação de lideranças. Uma pequena amostra do problema aqui: https://diplomatique.org.br/think-tanks-ultraliberais-e-nova-direita-brasileira/
- 13Recuso, não sem reconhecer a importância e o pioneirismo das pesquisas da antropóloga Isabela Kalil e seu uso específico do termo bolsonarismo como indicação da clivagem entre a figura do ex-presidente e a persistência de um ideário fascista enraizado na sociedade brasileira.
- 14Edição especial da revista Transgender Studies Quarterly traz um amplo debate sobre essas ligações. < https://read.dukeupress.edu/tsq/article/9/3/311/319375/IntroductionTERFs-Gender-Critical-Movements-and>
- 15É notável que o “mito de origem” da web 2.0 esteja situado no uso dos recém-criados blogs, que serviram, nos EUA, como ferramenta de conexão entre as pessoas sobreviventes do 11 de setembro e foram impulsionados, a partir dali, como o melhor exemplo de horizontalidade entre emissor-receptor de mensagens, superando, portanto, o modelo verticalizado da mídia tradicional.
- 16Como alegoria, remeto os leitores/as à série inglesa Years and Years, veiculada no Brasil pela HBO. Desde o início, a candidata que encarna a extrema-direita usa exatamente esse tipo de estratégia, ao propor em um debate de TV que antes de votar os eleitores deveriam se submeter a um teste de QI, provocando reações de espanto justamente por estar sendo sincera demais, fugindo, portando, do jogo do que pode ou não ser dito na política. A cena faz parte do trailer oficial, aqui < https://www.youtube.com/watch?v=SY41jhIP_xI.>
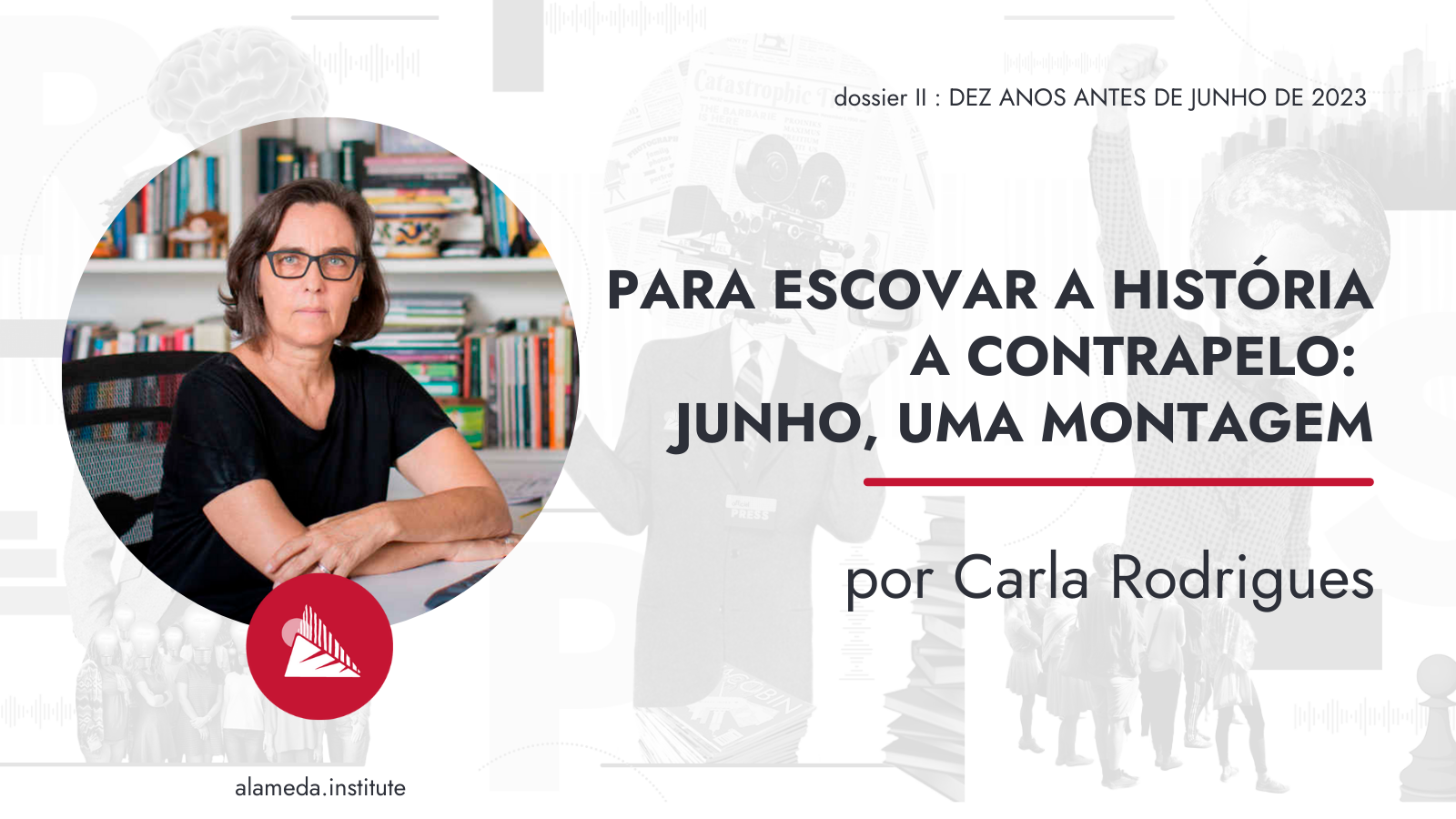
RELATED ARTICLES
Post-scriptum sobre o décimo aniversário
O ovo do ornitorrinco
Fragmentos de 2013
Dez anos antes de junho de 2023