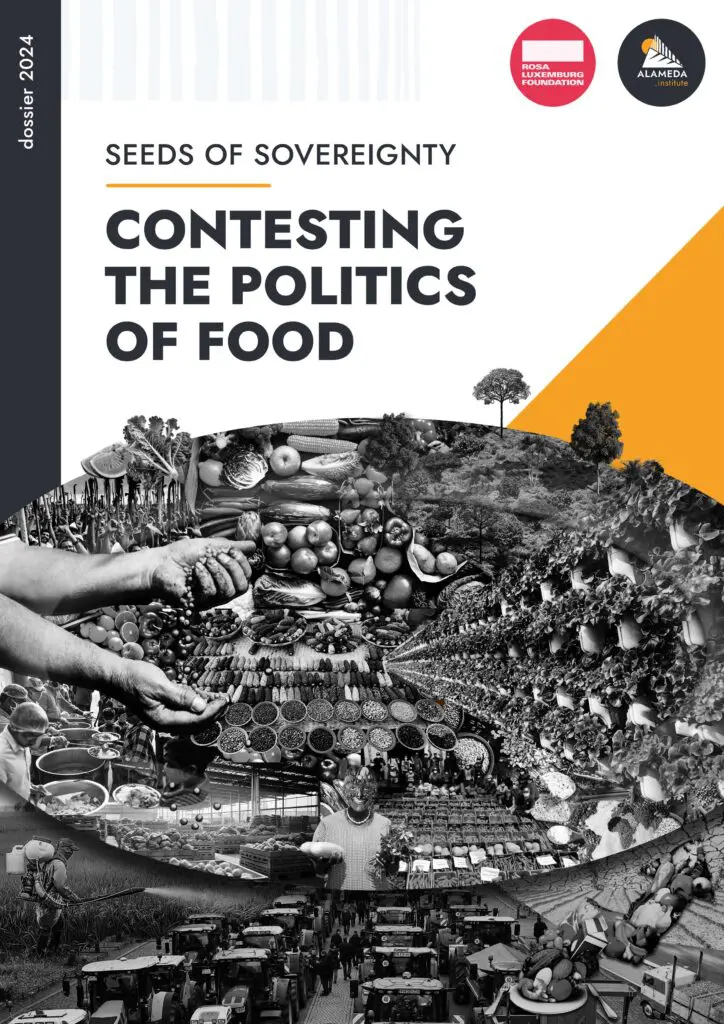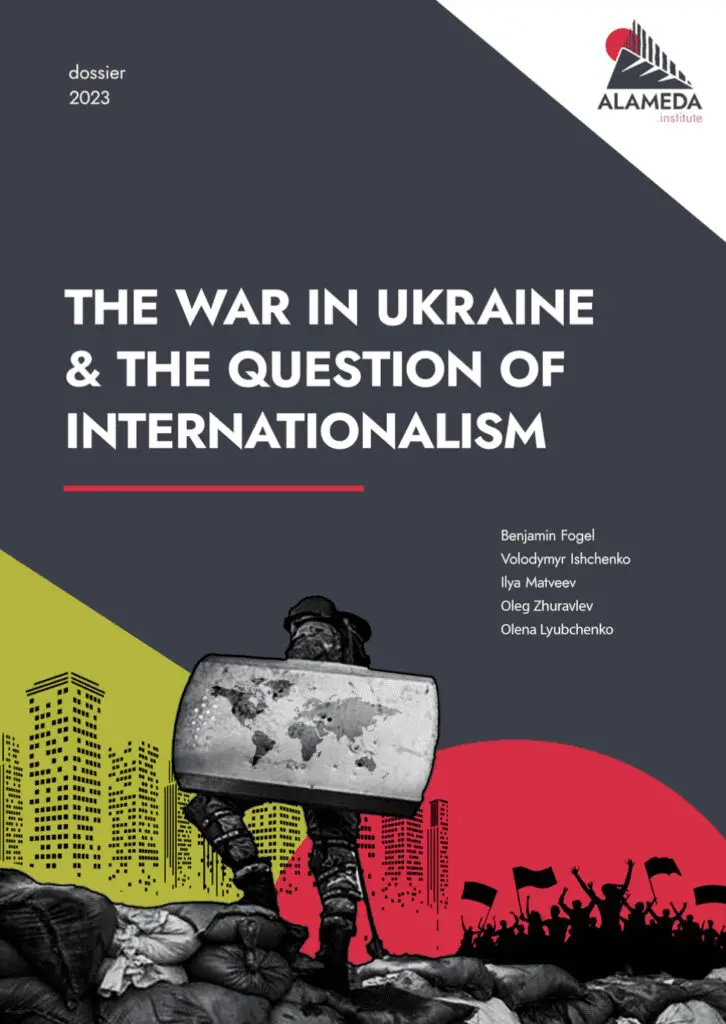Negociando a ‘Carta Magna da ação humanitária’: Entrevista com Jan Eliasson
A pedra fundamental da reforma humanitária formal na década de 1990 foi uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas conhecida como 46/182. Frequentemente mencionada em relatos sobre a consolidação de um ‘sistema’ humanitário e citada como o primeiro momento de reforma na evolução do setor contemporâneo, a 46/182 criou o Departamento de Assuntos Humanitários, o precursor do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários; também estabeleceu o cargo de Coordenador de Ajuda de Emergência, o Comitê Permanente Interagências e novos mecanismos para apelos de emergência e financiamento. Para Michael Barnett, autor do influente Império da Humanidade: Uma História do Humanitarismo, Em um contexto de crise, a resolução refletiu - mas também promoveu - a integração da ação humanitária na política de poder global: À medida que o mundo se afeiçoava ao humanitarismo, ele se tornava importante demais para ser deixado às iniciativas de organizações não governamentais com redes frouxas e precisava ser centralizado’.
O contexto para as reformas da resolução 46/182 foi marcado pela instabilidade, tanto em nível geopolítico, com o abrandamento da Guerra Fria, quanto em relação à questão mais limitada e imediata da resposta a desastres. A insatisfação com os mecanismos existentes de resposta a desastres da ONU foi expressa quase desde a época de sua criação, no início da década de 1970. Na década de 1980, essas reformas em andamento foram brevemente envolvidas em agendas mais expansivas; elas também foram renovadas após o terremoto de 1988 na Armênia Soviética, que desencadeou a criação de mecanismos adicionais para ajuda emergencial. Nos anos seguintes, a cooperação internacional aumentaria à medida que a rivalidade entre as superpotências diminuísse, levando a um período de políticas ‘humanitárias’ intensificadas, desde o rápido crescimento do financiamento de ajuda humanitária até a multiplicação de missões de manutenção da paz, o aumento do intervencionismo militar ocidental e as tentativas das organizações humanitárias de se autorregularem para atravessar os campos minados éticos resultantes. Esses desenvolvimentos estavam no horizonte quando a Resolução 46/182 foi aprovada em 19 de dezembro de 1991, uma semana antes da dissolução da União Soviética.
A tarefa de conduzir as negociações coube ao diplomata e político sueco Jan Eliasson, que também se tornou o primeiro Coordenador de Ajuda de Emergência de 1992 a 1994. Antes desse cargo, Eliasson havia sido Representante Permanente da Suécia na ONU (1988-1992); posteriormente, ocupou muitos cargos importantes na ONU e em seu país natal, atuando como Presidente da 60ª sessão da Assembleia Geral da ONU (2005-2006), Ministro das Relações Exteriores da Suécia (2006) e Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas (2012-2016), entre outros cargos. Esta entrevista com Eliasson sobre seu papel na reforma humanitária foi editada para fins de extensão e clareza.
Entrada no serviço internacional
Fui criado na tradição sueca de política externa, em que a cooperação internacional e o multilateralismo eram uma inclinação natural. Trabalhei com o lendário primeiro-ministro Olaf Palme, que era um pouco ativista, principalmente em conflitos como o Vietnã e o Afeganistão. Também tínhamos uma tradição na Suécia de acreditar firmemente nas Nações Unidas. Um secretário-geral muito conhecido foi Dag Hammarskjöld, que foi o segundo secretário-geral, um diplomata lendário e muito respeitado em meu país. Ele morreu em um acidente aéreo em 1961, que foi traumático na Suécia. Ele era uma pessoa a ser seguida na diplomacia - eu tinha uma foto dele na gaveta da minha mesa de trabalho no Ministério das Relações Exteriores. Dag Hammarskjöld foi uma pessoa que ajudou a criar o ethos em torno das Nações Unidas. Ele acreditava firmemente na Carta da ONU. E eu era conhecido por alguns na ONU por sempre carregar a Carta comigo, no bolso, durante meus anos como subsecretário-geral e coordenador de ajuda emergencial na década de 1990, mas também, mais tarde, como presidente da Assembleia Geral e depois como secretário-geral adjunto. Portanto, era uma Carta muito usada em meu bolso!
Para levar a conversa para questões de ação humanitária, fui embaixador da Suécia na ONU no final da década de 1980 - vim para Nova York na primavera e no verão de 1988. Naquela época, nós da Europa, em particular, sentíamos que a Guerra Fria estava desaparecendo ou iria desaparecer. Mikhail Gorbachev estava no poder na União Soviética e havia grandes esperanças de acabar com a Guerra Fria e com o período debilitante de impasse nuclear e outros temores das décadas de 1970 e 1980.
A Carta da ONU começa com três palavras: ‘Nós, os povos’. O que sentimos como embaixadores em Nova York - um grupo particular de bons amigos - foi que a Guerra Fria implicava que as nações eram peões em um tabuleiro de xadrez geopolítico, enquanto, na verdade, toda a intenção da ONU era colocar os seres humanos, as pessoas, ‘nós, os povos’, no centro. E o que poderíamos contribuir era trazer a dimensão dos direitos humanos e da ação humanitária com mais força para as Nações Unidas no final da Guerra Fria.
Tivemos essas discussões em 1988 e ʼ89 e ʼ90. Na época, fui eleito vice-presidente do ECOSOC, o Conselho Econômico e Social, e concordamos que essa seria uma plataforma extremamente boa para propor um texto que poderia formar a base de uma resolução da Assembleia Geral da ONU dando um mandato para a ação humanitária - e até mesmo criando, como acreditávamos e que mais tarde se tornou o caso, um Departamento de Assuntos Humanitários igual ao Departamento de Operações de Manutenção da Paz, Departamento de Assuntos Políticos e assim por diante.
Desastres causados pelo homem
Fui escolhido para ser o líder desse empreendimento, e o primeiro passo foi ir a Genebra no verão de 1991, onde negociamos um documento. Era um documento bastante modesto, digamos, de quatro ou cinco páginas - uma espécie de ideia, noção, um esboço de elementos para uma solução. Mas foi necessário negociar, e foi aí que descobrimos os pontos delicados de trazer a dimensão humanitária para as Nações Unidas, que era fortemente orientada para a segurança e para a soberania e a integridade territorial, que são princípios básicos da ONU.
Naquela época, havia um grupo francês bastante ativista Secretário de Estado para ação humanitária, Bernard Kouchner, ex-membro da Médicos Sem Fronteiras, que apresentou a noção de Engenharia humanitária ou intervenção humanitária. Esse foi um elemento um pouco perturbador nas negociações, porque muitos dos países em desenvolvimento sentiram, após o colonialismo, que dar às ‘potências ocidentais’ um instrumento para levantar questões que, para alguns, eram claramente assuntos internos, não era aceitável. Tive que trazer as discussões de volta ao que tínhamos no passado - genocídio, durante a Segunda Guerra Mundial e o que havia acontecido no Camboja; Ruanda ainda estava por vir.
Era imperativo ser capaz de agir com determinação não apenas nos casos de desastres naturais, que ocorriam regularmente - terremotos, enchentes e assim por diante - mas também nos desastres causados pelo homem: Previmos seu crescimento em número e escala com o fim da Guerra Fria. Quando o ‘cobertor molhado’ da Guerra Fria desaparecesse, surgiriam outras forças - econômicas, sociais, ambientais, forças internas que explodiriam dentro dos países. Previmos um período de guerras civis na década de 90, o que aconteceu mais tarde nos Bálcãs e na África, principalmente. Tivemos que criar essa aceitação de ação por motivos humanitários. A ação em relação a desastres causados pelo homem foi particularmente difícil, porque os delegados sentiram que essa poderia ser uma questão de sensibilidade interna em muitas nações.
Fui ajudado não apenas pelas potências ocidentais - a Comunidade Europeia era fortemente favorável a isso, e meus vizinhos nórdicos também eram extremamente favoráveis - mas também, surpreendentemente, tive um ‘sim’ relutante de Sergey Lavrov, que na época era o chefe de assuntos da ONU e vice-ministro das Relações Exteriores da União Soviética. Nós nos encontramos, demos uma volta e nos demos bem pessoalmente, e então ele disse: ‘Tudo bem, não vou obstruir isso. Acho que você está no caminho certo’. E isso foi muito importante porque significou que não tínhamos essa divisão Leste/Oeste. Voltei para Nova York como embaixador com esse documento em minhas mãos. Mostrei-o ao Presidente da Assembleia Geral, Samir Shihabi, da Arábia Saudita, e ele criou um grupo de trabalho aberto, fora dos fóruns tradicionais da Assembleia Geral. Meu objetivo era concluir o trabalho até o final de 1991. Ele concordou. Começamos apenas em outubro de 1991. Depois, tivemos dois meses de negociações extremamente intensas.
Eu tinha duas pessoas da Secretaria que me ajudavam: Shaukat Fareed, o diplomata paquistanês, e também Edward Tsui, que era uma espécie de enciclopédia ambulante sobre redação e sobre minhas intenções, porque ele e eu conversávamos muito. Continuamos em um ritmo muito intenso. No início, havia talvez setenta ou oitenta pessoas na sala. Eu não queria excluir ninguém, qualquer um poderia vir. Mais tarde, quando os detalhes estavam sendo negociados, o número caiu para talvez quarenta ou cinquenta pessoas. E então tivemos uma verdadeira batalha de textos.
Insistir em princípios
Ainda tenho muito orgulho de meus colegas mais jovens chamarem essa resolução de ‘a Carta Magna da ação humanitária’. Lembro-me das discussões - sobre as questões de soberania, intervenção humanitária, sobre o Comitê Permanente Interagências, sobre apelos consolidados.
A técnica que usei nas negociações foi falar primeiro sobre princípios. É algo que eu mesmo aprendi durante meus anos como diplomata, que se você começar a discutir primeiro as coisas básicas - princípios que devem guiá-lo - você aumenta muito a possibilidade de chegar a uma resolução. Porque, durante essa discussão de princípios, você aborda mais ou menos todos os pontos problemáticos que podem surgir mais tarde. Se você seguir algum tipo de agenda técnica, isso não funcionará. Se começar com logística ou ‘Comitê Permanente Interagências’, você coloca a burocracia acima dos princípios. Mas as pessoas estavam muito impacientes porque eu continuava falando sobre os princípios, principalmente sobre as questões de soberania e de intervenção humanitária. Eu realmente me empenhei, queria que todos concordassem com isso e, no final, fui criticado. Porque não tínhamos um texto pronto nem mesmo no início de dezembro. Eu estava preso, diziam, aos princípios. Mas eu sabia que estava no caminho certo, então, quando finalmente chegamos a um acordo sobre todos os textos do preâmbulo e os princípios envolvidos, foi uma viagem fácil - não um fácil mas isso era apenas produção de texto.
A Assembleia Geral terminou em 19 de dezembro de 1991. E, acredite ou não, eu estava trabalhando até tarde da noite entre 17 e 18 de dezembro. Estávamos na reunião à tarde e ficamos presos em três ou quatro pontos, mas eu disse: ‘Não vou deixá-los sair da sala’. Então, ficamos na sala! Eu disse: ‘Temos que continuar. Temos o último dia da Assembleia na sexta-feira e, se perdermos essa oportunidade, vocês terão outro presidente, terão outro presidente da Assembleia Geral e teremos que começar do zero novamente no próximo ano. É isso que vocês querem? E, no final, eles ficaram - todos ficaram.
Terminamos às 17h e então eu disse: ‘Vá comer alguma coisa. Volte às sete e continuaremos’. Fizemos outro intervalo às 23 horas. Havia um restaurante chinês nas proximidades. E para animar as coisas, lembro que pedi a todos que trouxessem seus biscoitos da sorte. Eu disse: ‘Não quebrem seus biscoitos da sorte! Venham com eles para a reunião’. Começamos a ler o texto dos biscoitos da sorte às 23h. Isso ajudou a aliviar as tensões! As pessoas riram e criamos uma atmosfera agradável. Mas, ainda assim, ficamos presos novamente. À uma da manhã, ou talvez à uma e meia, dei o texto final. Havia três ou quatro pontos muito importantes, e eu disse: ‘É isso. Vamos aceitar ou não? Não podemos continuar até as cinco horas da manhã porque temos que fazer os textos para amanhã’. E então eles voltaram.
Os dois grupos principais eram o grupo europeu e o G77, o grupo de países em desenvolvimento - na época, havia cerca de 127 nações representadas no nome G77. A principal nação desse grupo, a delegação com inclinação ideológica, era a Índia. E eles voltaram, representantes de ambos os grupos, às 13h30. Foi um pouco de teatro. Silêncio na sala. Ambos anunciaram com entusiasmo a aceitação do texto. Em seguida, houve aplausos e as pessoas estavam se abraçando e agradecendo umas às outras.
No dia seguinte, o texto foi impresso e levado para votação na Assembleia Geral. A única coisa preocupante foi que houve um vazamento para a mídia. Se você conseguir The New York Times de 18 de dezembro, você verá este artigo que retrata a resolução como uma vitória da intervenção humanitária.1Paul Lewis, ‘U.N. to centralize its relief efforts’, The New York Times, 18 de dezembro de 1991. Consulte também Paul Lewis, ‘Disaster Relief Proposal Worries Third World’, The New York Times, 13 de novembro de 1991. Eu estava furioso. Furioso! Gana era o presidente do G77 e, felizmente, o líder era uma pessoa maravilhosa, Kofi Awoonor. Então liguei para ele: ‘Ouça, isso é uma sabotagem. Você sabe disso. Nós conversamos sobre isso, sobre as várias semanas de princípios, e você ouviu minha posição. Você precisa convencer seus amigos de que não é isso que está acontecendo’. Ele ligou para os sete ou oito países não alinhados mais importantes, ou países do G77. Eles também ficaram furiosos. Em suas declarações de aceitação da resolução, deixaram bem claro que não se tratava de uma aceitação da intervenção humanitária.
Então, a resolução foi adotada e eu dei um grande suspiro de alívio, até que o Secretário-Geral Boutros Ghali me ligou e perguntou se eu queria chefiar o departamento que estava prestes a ser criado. Eu não sabia que havia escrito minha própria descrição de cargo durante aquele período! Eu hesitei. Mas fiquei intrigado com isso e queria levar adiante o que eu havia trabalhado e pensado desde aquela discussão sobre a mudança dos peões do jogo de xadrez para a compaixão humana e a paixão pela ação. Então, aceitei.
Pessoal, político, institucional
Quando você segue nessa direção - de estabelecer um mandato que afeta mais diretamente os seres humanos, as vidas - você automaticamente se envolve mais. O objetivo era tornar a ONU mais próxima da realidade. E ‘a base’ era o enorme sofrimento, a pobreza, até mesmo a fome, na Somália e no Sudão, onde estive em minhas missões anteriores; eram os movimentos de refugiados e pessoas deslocadas em Mianmar, onde conduzi a primeira negociação sobre a situação dos rohingyas. Foram os desastres naturais em todo o mundo.
Posteriormente, como presidente da Assembleia Geral, negociei a criação do Conselho de Direitos Humanos e, quando fui secretário-geral adjunto da ONU, apresentei a iniciativa ‘direitos humanos na frente’, que tinha como objetivo colocar as violações de direitos humanos na agenda do Conselho de Segurança como motivo de prevenção - que eles deveriam ver as violações de direitos humanos como sinais de uma crise iminente. Provavelmente eu estava à frente do tempo, pois a iniciativa não foi levada adiante depois que deixei a ONU.
Lembro-me de uma vez em que éramos oito subsecretários gerais na mesa e surgiu a questão das minas terrestres. Antes, as minas terrestres não eram vistas como um problema ‘humanitário’ - mais tarde, houve o acordo de Ottawa e assim por diante. Mas o assunto foi discutido naquela mesa e eu disse: ‘Estou disposto a assumir. Preciso de algumas pessoas para trabalhar nisso e depois terei que conversar com as agências, mas acho que vou fazer isso’. Então, acredite ou não, um dos outros USGs disse: ‘Não, você não pode fazer isso’. Por que não? ‘Não há mandato para trabalhar com minas terrestres’. E eu disse: ‘Você está louco? As minas terrestres estão lá fora, no solo, arrancando as pernas dos agricultores enquanto conversamos, e você me diz que não podemos fazer isso porque não temos um mandato? Teremos um mandato se eu for falar com meus ex-colegas sobre isso, se precisarem de uma resolução para isso. Mas acho que é tão óbvio que precisamos fazer isso, então podemos fazer isso simplesmente com o mandato humanitário’. Isso mostra o nível de burocracia da ONU.
Tudo isso para dizer que, em alguns momentos, fui motivado pela ideia de que deveríamos nos aproximar de algo significativo para os seres humanos, mesmo que eu ache que nunca tenha usado essa terminologia antes. E isso acrescenta uma qualidade emocional ao trabalho. É um sentimento extremamente satisfatório quando você sente que negociou o retorno de cinco mil refugiados ou abriu um corredor humanitário, como fiz no Sudão em 1993. Seu coração não consegue preencher o espaço de seu peito, é tão grande. E você vê isso em outras pessoas também. Então você também fica mais irritado se elas não o ouvem!
Talvez minha paixão pelos direitos humanos tenha sido criada durante meu período como chefe humanitário: É uma linha tênue entre direitos humanos e atrocidades, e ação humanitária e necessidades humanitárias. A frustração de um agente humanitário geralmente é o fato de trabalharmos com os sintomas e não com as causas. Essa é uma situação muito, muito frustrante de se encontrar. Estar na situação do médico do pronto-socorro e ver mortes desnecessárias, você diz: ‘Que diabos está acontecendo?’
A recusa em reconhecer as causas não ajuda. Mas também precisamos preservar o espaço para a ação humanitária. Precisamos manter duas perspectivas vivas ao mesmo tempo: Uma delas é a realidade concreta no local. A outra é o mundo como ele deveria ser. Nosso trabalho é reduzir a distância entre as duas.
NOTAS DE RODAPÉ
- 1Paul Lewis, ‘U.N. to centralize its relief efforts’, The New York Times, 18 de dezembro de 1991. Consulte também Paul Lewis, ‘Disaster Relief Proposal Worries Third World’, The New York Times, 13 de novembro de 1991.

ARTIGOS RELACIONADOS
A Big Tech está tentando acabar com a democracia?
Outro chefão cai, nada muda
Soberanos do Brasil
Estamos agora no estágio Sopranos do imperialismo
O ‘Complexo Militar-Digital’ controla tudo?
Quem são os humanitários?
Por que a soberania digital é importante
Uma administração sem lei de Trump se descontrola no Caribe
Uma questão pós-social
A política da normalidade na Rússia e na Ucrânia em tempos de guerra
Sobre os limites do humanitarismo
A máquina humanitária: Gestão de Resíduos em Guerras Imperiais
Deslocamentos
Recuperando a soberania digital: Um roteiro para construir um ecossistema digital para as pessoas e o planeta
Partido Labour, ajuda externa e o fim da ilusão
Ecocídio: Explorando as raízes e as aplicações atuais do conceito
A Revolução Presa do Camponês
Humanitarismo ocidental: Saving Lives or Regulating Death?