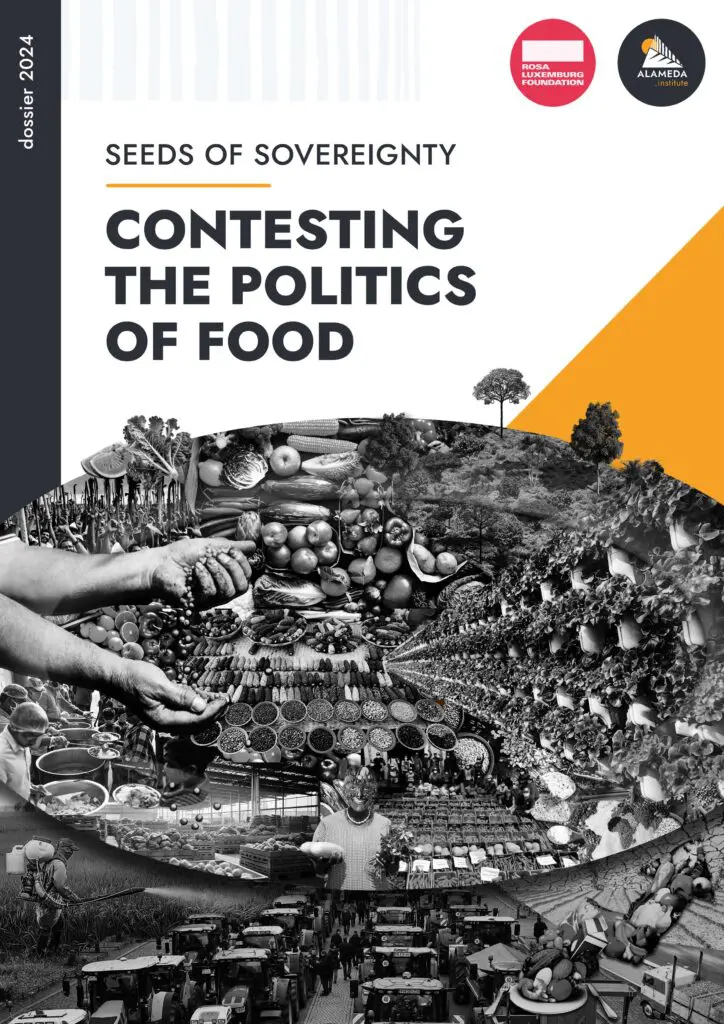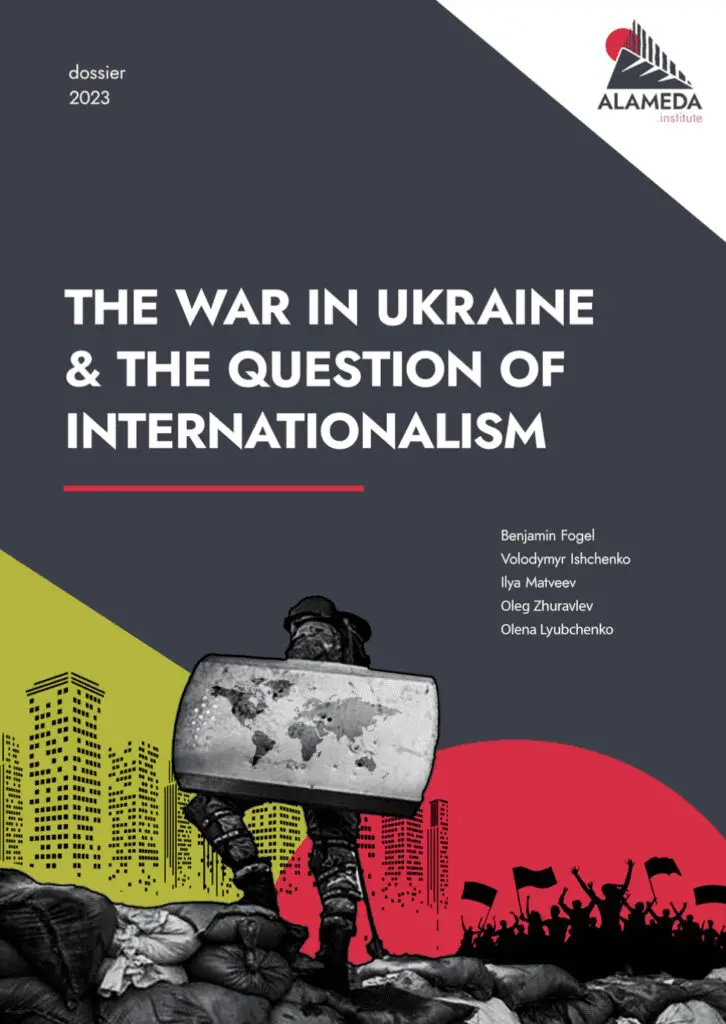XII / Em solidariedade à Ucrânia: Reflexões sobre guerra e morte
Estou escrevendo esta nota de solidariedade do Líbano, que durante décadas foi considerado sinônimo de guerra. A guerra continua sendo uma possibilidade aqui: ela é sempre imanente, se não for o próprio fundamento da política. E, embora a guerra na Ucrânia pareça ser diferente, é indiscutivelmente uma guerra do mesmo tipo em uma forma diferente.
A guerra sectária, como a guerra que vivemos no Líbano, é uma guerra colonial porque não permite o surgimento de diferenças reais: é uma guerra de vizinhos, de mesmice, uma guerra que rejeita a diferença íntima. Mas a segregação e a divisão são os códigos políticos deste século, independentemente do lugar e da localização: no Líbano, na Palestina, na Síria, no Iraque, no Iêmen, na Etiópia, na Ucrânia.
Hoje, as pessoas em todo o mundo sabem muito bem como falar sobre a guerra sem precisar dizer sua localização. Mas sempre há outra guerra se formando no horizonte, e isso parece ser um sinal claro de que algo não está certo em nosso mundo. A guerra na Ucrânia recebe mais atenção do que o que está acontecendo, por exemplo, em Tigray ou no Iêmen; mas a guerra, independentemente do local, significa uma interrupção, algo do Real aparecendo no presente. Embora a história moderna seja frequentemente recontada como uma trajetória pontuada e moldada por revoluções, a guerra tem sido o evento mais determinante.
Guerras de partidarismo
A maioria das guerras do século XX foram guerras de partidarismo - como Carl Schmitt teria dito - baseadas em uma política de inimizade, na esteira do recuo das garantias teológicas e, depois, da derrota da política revolucionária. Elas também foram possibilitadas por ‘mentiras nobres’, que Leo Strauss, um dos parceiros de luta de Schmitt, reconheceu como fundamentais para a manutenção da ordem social e da comunidade política pelo Estado.
Dois dos teóricos políticos mais influentes do século passado, Schmitt e Strauss eram conservadores, preocupados com o fracasso da modernidade e a crise de autoridade que ela produziu. Ambos acreditavam que a modernidade havia de alguma forma corrompido a política: Strauss voltava aos clássicos, enquanto Schmitt buscava reencantar a política após o secularismo com um conceito renovado de soberania. O pensamento de Schmitt influenciaria os nazistas, entre outros, enquanto Strauss é frequentemente lembrado hoje como o teórico fundamental do neoconservadorismo. A guerra atual é schmittiana, pois envolve reivindicações concorrentes de soberania: a dos invasores e a dos resistentes. Mas ela também é Straussiana, sustentada por mentiras unificadoras de diferentes lados.
Aqui, não estou interessado na noção de soberania territorial, que não é o que realmente está em jogo, apesar das representações dos liberais ocidentais. Embora a Rússia tenha efetivamente anexado o território ucraniano, seu objetivo principal não é territorial. Isso seria anacrônico. Em vez disso, tanto as autoridades russas quanto as ucranianas consideram suas ações como uma defesa do ‘direito à existência’.
Schmitt argumentou que a soberania não tem nada a ver com legalidade: é simplesmente uma questão de decisão em um estado de exceção. A soberania se torna o poder da ‘decisão genuína’, não mediada pelos mecanismos do positivismo legal e do liberalismo parlamentar. A teoria política de Schmitt dá licença para a guerra, mas isso não quer dizer que ela simplesmente ofusque as lutas políticas concretas. Ela já reflete uma posição ideológica partidária na trajetória imanente da guerra que continua a moldar a política atual. Strauss, que criticou notoriamente o conceito de política de Schmitt, manteve, no entanto, uma visão antagônica da política.
A guerra contra a Ucrânia pode ser justificada com base nos fundamentos estabelecidos por Schmitt e Strauss; pode ser justificada como um meio de ‘restringir os riscos da democracia’. Minha proposta aqui, então, é que ser solidário com a Ucrânia significa renovar, por meio da prática política, uma crítica não liberal do realismo comum a Schmitt e Strauss.
Ucrânia e solidariedade global
A guerra na Ucrânia dividiu o mundo - e não apenas os Estados tomadores de decisão. No Líbano - o país da guerra civil sectária, que recentemente deixou de pagar sua contribuição para os custos operacionais das Nações Unidas, perdendo temporariamente seus direitos de voto na Assembleia Geral - o governo condenou oficialmente a invasão da Rússia. Mas o chamado ’eixo de resistência‘, que inclui o Hezbollah e os social-nacionalistas sírios, bem como elementos residuais da esquerda stalinista, posicionou-se em apoio à Rússia. Ele também apóia o regime sírio. Ele considera a guerra contra a Ucrânia uma ação defensiva legítima contra o expansionismo americano.
Essa posição é atraente para aqueles que se dizem antiimperialistas, mas permanece dentro dos próprios parâmetros da política que permitiu a guerra contra a Ucrânia em primeiro lugar. Não só não estamos mais na era do imperialismo - o Estado-nação agora ressurgiu - como também não estamos mais em uma era que permite esse tipo de aposta: a aposta de que há um Grande Outro responsável por todas as nossas misérias.
É revelador o fato de que esse anti-imperialismo grosseiro tenha sido esvaziado de qualquer conteúdo utópico. A Rússia, ao contrário da União Soviética, não pretende oferecer uma alternativa ao capitalismo. Ela oferece apenas um capitalismo alternativo: autocrático, não liberal e, ocasionalmente, não ocidental.
A solidariedade internacional deve começar com a premissa de que a guerra é uma condição de violência que deve ser tratada no contexto de uma estrutura permanente de exploração. Se a guerra é um meio de reprodução do Estado burguês, a solidariedade radical com a Ucrânia decorre de um interesse em transcender essa política. Ela não pode ser simplesmente a defesa ideológica dos direitos humanos, que reduz a violência da guerra a uma troca subjetiva entre perpetradores e vítimas. Sustentando uma visão da política baseada em ‘associação e dissociação’, em vez de bem e mal, o realismo schmittiano que continua a moldar a ordem internacional se opõe criticamente a essa postura despolitizante, mas pelos motivos errados.
Schmitt também desconfiava da subordinação liberal da política à economia por meio de normas abstratas que rejeitavam o coletivo: o individualismo é um problema para os reacionários porque nega o político, que trata de ‘grupos humanos reais’. Embora Schmitt afirmasse que a política não podia mais ser simplesmente interpretada em termos teológicos moralistas, ele propôs que a teologia precisava ser revivida em termos seculares por meio do partidarismo e da necessidade de nomear um inimigo comum.
A análise de Sigmund Freud sobre a guerra e a política já era uma réplica a esse relato - e pode ser mobilizada no contexto atual em apoio a uma solidariedade internacionalista. Para Freud, a guerra é imanente. Em vez de se concentrar no efeito do medo e da inimizade, como fez Schmitt, Freud questionou a própria função do afeto, seus usos políticos.
Agressividade e formação de grupos
O conceito psicanalítico de agressividade oferece uma crítica a essa política realista de inimizade. Ele nos informa que o inimigo também possui um inconsciente.
Para Schmitt, o objetivo desejado da política é o monopólio do Estado sobre a violência. De acordo com Freud, por outro lado, o próprio problema do Estado é que ele proíbe o erro para preservar seu monopólio da lei. Seu ensaio ‘Reflections on War and Death’ (Reflexões sobre a guerra e a morte), publicado em 1918, é relevante aqui:
De fato, é um mistério por que os membros individuais das nações deveriam desdenhar, odiar e abominar uns aos outros, mesmo em tempos de paz... Parece que todas as conquistas morais do indivíduo foram obliteradas no caso de um grande número de pessoas, para não mencionar milhões, até que restassem apenas as inibições psíquicas mais primitivas, mais antigas e mais brutais.
A declaração de Freud não deve ser lida no espírito dos psicólogos liberais de grupo. Afinal de contas, sua Ego e psicologia de grupo foi escrito como uma crítica a Gustav Le Bon e outros que afirmavam que os afetos coletivos, as multidões, os grupos e assim por diante refletiam o ressurgimento de sentimentos arcaicos primitivos, uma regressão às formações de grupos pré-modernos e, o mais importante, sérias ameaças ao Estado.
Os psicólogos de grupo liberais viam, e continuam a ver, o populismo e as identificações coletivas como uma ameaça à promoção do individualismo desejada pelo Estado contra as formações de grupo. Freud, entretanto, afirmou que o próprio Ego é resultado do grupo, uma imagem do coletivo que reside nos sujeitos. Sua declaração acima deve ser entendida como uma continuação dessa crítica: como é que o Estado liberal passa a funcionar não como um indivíduo autônomo (e aqui ‘autônomo’, na visão de Freud, significaria um indivíduo não movido pelo interesse próprio, que pode questionar o desejo e as formas de prazer), mas como uma multidão enfurecida? O nacionalismo, que se baseia no egoísmo, é o alvo final de Freud aqui: ‘Os nobres americanos são tão egoístas em seus sonhos quanto os austríacos’.
A razão pela qual ainda testemunhamos essa capacidade de guerra e agressividade é que a civilização não consegue se livrar da possibilidade de regressão, na forma de nacionalismo. A extraordinária plasticidade do desenvolvimento psíquico‘, argumentou Freud, ’não é isenta de limites quanto à sua direção; pode-se descrevê-la como uma capacidade especial de ação retrógrada ou regressão, pois às vezes acontece que um estágio posterior e superior de desenvolvimento que foi abandonado não pode ser alcançado novamente‘.
O núcleo do impulso para a guerra e a violência, a matança do outro, tem a ver com a reconstrução retroativa da agressividade formativa. Em vez de entender a guerra como uma decadência da moralidade - uma inclinação, como diria Hobbes - Freud argumenta que a guerra é o resultado da reconstrução baseada em ‘aquisições e desenvolvimentos posteriores’ de um impulso indestrutível para a destruição. O segredo dessas ‘aquisições posteriores’ para a guerra talvez esteja no Estado-nação.
A guerra e o retorno dos reprimidos
As guerras são, ao mesmo tempo, uma regressão, uma repetição e um retorno do reprimido, que o Estado moderno não conseguiu eliminar. É uma acusação das deficiências da modernidade liberal, e Freud, que era de fato um liberal radical, estava profundamente preocupado com esse problema. Como a sociedade civilizada poderia fazer guerra, apesar de todas as suas afirmações sobre o progresso?
Para Freud, a guerra deve se tornar um momento de reconhecimento de um sentimento de ‘estranheza no mundo’ que não pode ser ignorado, uma estranheza no pertencimento nacional. Ele argumentou que a guerra deve ser uma fonte de desfamiliarização que deve ultrapassar os limites de nossa compreensão. Ela é irracional, ilógica; no entanto, é a prova de que a racionalidade não é ‘uma força independente’ e que não podemos ‘ignorar sua dependência de nossa vida emocional’.
Os motivos, propõe Freud, são comuns, como as amoras. Mas elas são ‘infrutíferas quando se trata de nossos interesses’. O motivo da incapacidade da razão de acabar com a guerra está na atitude moderna em relação à morte, nossa incapacidade de lidar com a morte como um limite dentro da vida e da vida.
É nesse ponto que o argumento de Freud realmente fundamenta nossa discussão sobre solidariedade. Como a guerra está associada ao estranho, à perturbação, somos propensos a esquecer seu significado, a declarar impulsivamente solidariedade às suas vítimas porque ‘não podemos, de fato, imaginar nossa própria morte [naturalmente]’. No entanto, ao desfamiliarizar nossa própria relação com a morte, as guerras também têm a capacidade de refazer nossa relação com a vida.
Freud propõe que só podemos alimentar a ideia da morte quando ela tem a ver com os outros, e que o sujeito moderno é propenso a ‘renúncias e exclusões que resultam na tendência de excluir a morte dos cálculos da vida’. Isso inclui nossa imensa capacidade de chorar pelos outros: é uma convenção moderna dar mais consideração aos mortos, que não precisam mais dela, do que aos vivos. O problema moderno da incapacidade de se reconciliar com a morte é sublimado na arte, no teatro, na literatura e assim por diante, de modo a nos assegurar que ‘sob todas as vicissitudes da vida, ainda nos resta uma vida permanente’.
Supõe-se que as guerras interrompam tudo isso, desestabilizando nossa atitude anterior em relação à morte. No entanto, a normalização da guerra embotou o impulso de considerar essas questões. Freud ficou impressionado com a capacidade das nações ‘civilizadas’ modernas de se envolverem em atos de violência em larga escala. Schmitt entendia como o nomos da terra exatamente aquilo que ele considerava estranho. De acordo com a visão schmittiana, as relações internacionais são definidas por guerras travadas para promover os interesses dos estados nacionais. Freud, por sua vez, buscou uma ‘compreensão internacional’ da guerra, que ajudaria as pessoas em todos os lugares a trabalhar com essa forma de agressividade e evitar servir como uma ‘engrenagem na gigantesca máquina de guerra’.
Os Estados reprimem seus cidadãos para manter os padrões morais. A Primeira Guerra Mundial foi chocante para Freud porque acabou com essa repressão. Se os Estados podiam agir de forma imoral e ilegal, o que se poderia esperar do indivíduo? O estado de exceção havia sido naturalizado e a lei, portanto, exposta como bárbara. A guerra desferiu um golpe significativo na função do Superego. Agora não havia mais vergonha em exibir uma autoridade irrestrita sobre a vida e a morte; o vínculo social havia começado a se dissolver. Se Freud pensava assim em 1918, o que podemos dizer em 2023?
Impulso à morte e progresso
Até a Primeira Guerra Mundial, a civilização moderna havia progredido por meio da negação da morte como o fim da vida. A crença moderna na imortalidade é o resultado de uma negação da finitude em geral. A forte inibição instilada pelo mandamento ‘não matarás’ é um sinal da agressividade assassina que é universal à humanidade. Essa agressividade é preservada intacta no inconsciente, que ‘não acredita em sua própria morte’ e age constantemente de acordo com isso.
A morte não é aceitável para a pulsão de morte: ela é precisamente o que é impulsivamente negado. A morte é repudiada porque nos relacionamos com ela com tanta contradição: em última análise, nós a desejamos para nossos parentes mais próximos, assim como para nossos inimigos. O amor é, na maioria das vezes, acompanhado por momentos de intensa hostilidade: ‘Exceto em alguns casos’, propõe Freud, ‘mesmo as relações amorosas mais ternas e íntimas também contêm um pouco de hostilidade que pode despertar um desejo inconsciente de morte’. Mas, atualmente, esse conflito ambivalente não resulta mais no desenvolvimento de teorias da ética e da alma, mas em neuroses, o que também nos dá uma visão profunda da vida psíquica normal".
A neurose moderna é exatamente esse prenúncio de morte, proporcionando um lugar onde o desejo inconsciente de morte se manifesta em emoções intensamente conflitantes de amor e ódio. Freud novamente: ‘Nosso inconsciente é tão inacessível à concepção de nossa própria morte, tão inclinado a matar o estranho e tão dividido ou ambivalente em relação às pessoas que amamos quanto o homem primitivo’.
Embora Freud expresse um sentimento de confusão sobre como a guerra é possível na civilização moderna, ele termina ‘Reflexões sobre a guerra e a morte’ com o que parece ser um chamado para a batalha:
Si vis pacem, para bellum.
Se você deseja paz, prepare-se para a guerra.
Os tempos exigem uma paráfrase:
Si vis vitam, para mortem.
Se você deseja a vida, prepare-se para a morte.
A agressividade veio para ficar, ao que parece, assim como o desejo inconsciente de violência e imortalidade. No entanto, em vez de naturalizar a justificativa realista para a guerra, o reconhecimento desse fato incentiva uma oposição racional e política à destruição arbitrária da vida coletiva da sociedade, como a que está sendo feita agora pela Rússia na Ucrânia. A vida é vivida à sombra do impulso da morte, mas não estamos preparados para isso. Ser solidário durante a guerra significa que, independentemente do contexto, devemos estar em constante preparação para a morte. Em vez de rejeitá-la, deslocá-la ou reprimi-la, precisamos aprender que não podemos viver sem admitir a pulsão de morte, que não podemos esperar viver se não nos prepararmos para morrer. A morte, aqui, é simbólica. No entanto, sua aceitação é essencial para uma reabilitação materialista da vida, contra o vitalismo ingênuo dos liberais contemporâneos e contra o realismo de Schmitt e Strauss.
ARTIGOS RELACIONADOS
A Big Tech está tentando acabar com a democracia?
Outro chefão cai, nada muda
Soberanos do Brasil
Estamos agora no estágio Sopranos do imperialismo
O ‘Complexo Militar-Digital’ controla tudo?
Quem são os humanitários?
Por que a soberania digital é importante
Uma administração sem lei de Trump se descontrola no Caribe
Uma questão pós-social
A política da normalidade na Rússia e na Ucrânia em tempos de guerra
Sobre os limites do humanitarismo
A máquina humanitária: Gestão de Resíduos em Guerras Imperiais
Deslocamentos
Recuperando a soberania digital: Um roteiro para construir um ecossistema digital para as pessoas e o planeta
Partido Labour, ajuda externa e o fim da ilusão
Ecocídio: Explorando as raízes e as aplicações atuais do conceito
A Revolução Presa do Camponês
Humanitarismo ocidental: Saving Lives or Regulating Death?